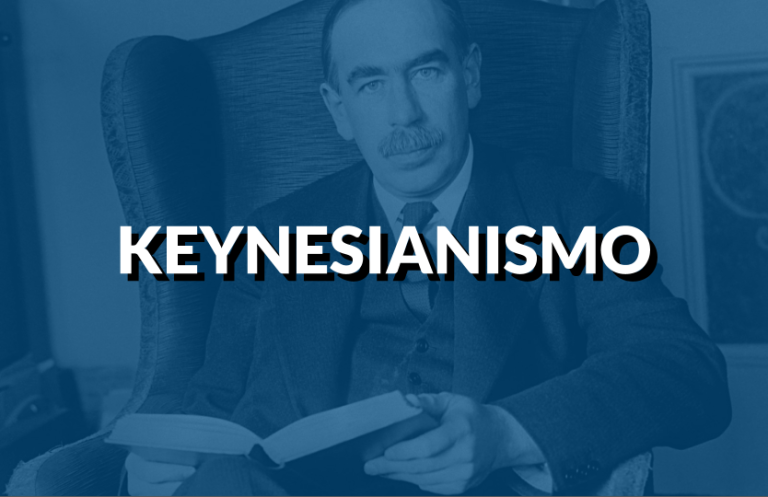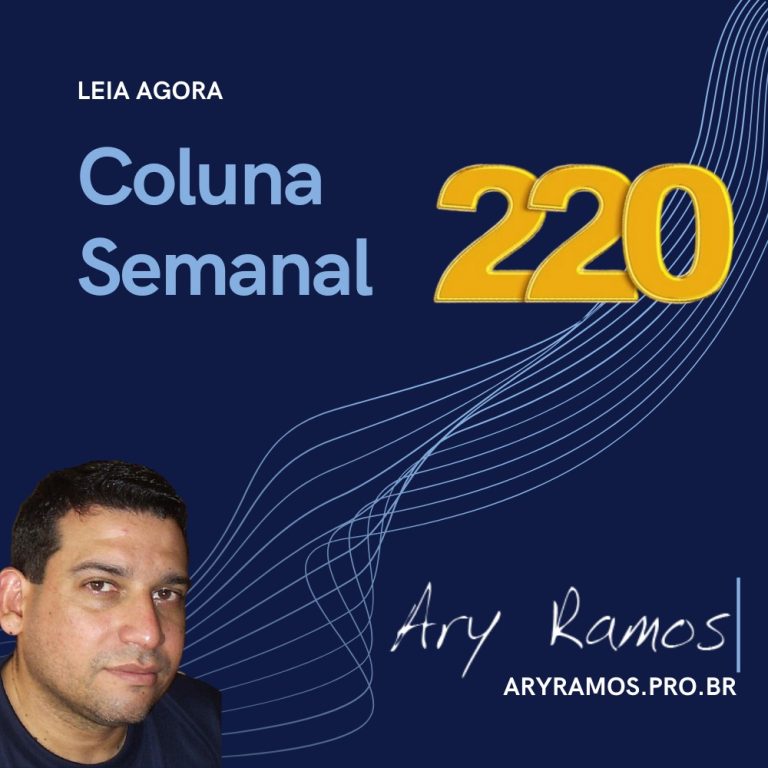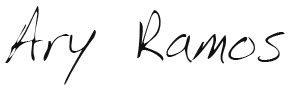Após quatro décadas de disputa política, os homens mais ricos do mundo são mais poderosos que qualquer poder estatal no Ocidente. As lógicas que comandam vão reduzir o planeta a um inferno social e ambiental – até que alguém os detenha
Por Ladislau Dowbor – OUTRAS PALAVRAS – 14/03/2025
O Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça,
onde o grupo é conhecido por se reunir anualmente,
para limpar sua reputação
Peter S. Goodman – O Homem de Davos, 2024
Esses Estados neoliberais abriram
cada território nacional para o saque corporativo
transnacional de recursos, mão de obra e mercados
William I. Robinson, 2016
Nossas atividades econômicas diárias geralmente são bem simples. A farmácia, as lojas, o supermercado, o ônibus, eventualmente um Uber, o posto de gasolina, levar as crianças para a escola e assim por diante. Parece bem local. Mas olhar para cima, em vez de obedecer ao filme Don’t Look Up, é o mais necessário, se quisermos entender por que os preços sobem, por que há tanto plástico e por que as prateleiras dos supermercados estão cheias de comida ultraprocessada. Sabemos que tudo isso é ruim, e as lojas também sabem. Tudo isso deveria ser regulado – mas se espalha, cada vez mais. Na verdade, quem está no comando?
Finalmente, muitos pesquisadores ousaram olhar para cima e aos poucos trouxeram luz à bagunça que temos e às formas estamos começando a distinguir. Um bom ponto de partida é a crise financeira global de 2007, que levou o ETH, o principal instituto público de pesquisa suíço, a apresentar em 2011 o primeiro estudo abrangente sobre a rede de controle corporativo global. Os resultados foram impressionantes: 737 corporações controlam 80% do mundo corporativo global. Destas, 147 controlam 40% — e 70% delas são instituições financeiras. Este é o topo da pirâmide: basicamente, gestão de dinheiro.
O governador do Banco da Inglaterra comentou à época que o estudo mudava nossa visão sobre como a economia funciona. Os autores da pesquisa afirmavam no artigo: não havia como evitar a constatação de que estávamos diante do “clube dos ricos”. Igualmente impressionante é o fato, destacado por eles, de que este foi o primeiro estudo global sobre o poder corporativo, embora o processo de sua formação estivesse em andamento por décadas – basicamente desde que Margareth Thatcher e Ronald Reagan colocaram-se a serviço das corporações. Claramente, não havia interesse em jogar luz sobre o assunto. Mas agora temos uma imagem mais clara.
A corporação Vale é um bom exemplo. É uma multinacional e a maior produtora de minério de ferro e níquel do mundo. De acordo com a Wikipedia, “também produz manganês, ferroligas, cobre, bauxita, potássio, caulim e cobalto, operando atualmente nove usinas hidrelétricas e uma grande rede de ferrovias, navios e portos usados para transportar seus produtos.” O total de ativos em 2021 é de cerca de US$ 90 bilhões, pertencentes a Ma’aden, Previ, BlackRock e Mitsui & Co. Foi uma empresa estatal brasileira, e na época seus lucros permitiam ao Estado financiar distintos projetos de desenvolvimento, como ocorria também com a Petrobrás. Atualmente, a Vale basicamente exporta matérias-primas brasileiras, gerando dividendos para acionistas internacionais e seus parceiros brasileiros. É uma corporação enorme e diversificada que serve interesses dos que estão no topo da pirâmide.
Privatização também é desnacionalização e representa, em essência, um escoamento das riquezas minerais do país. Isso fragiliza a capacidade de investimento público em políticas sociais como educação, saúde, segurança e outros serviços públicos essenciais que representam os “salários indiretos” da população. Também afeta infraestruturas como energia, transporte, comunicações e o complexo de água/esgoto, essenciais para a população, mas também para a produtividade da economia como um todo. A privatização tornou-se um dreno: a população e as empresas locais pagam o preço. As corporações de gestão de ativos, no topo, enriquecem mais. Tudo isso aprofunda o abismo global de desigualdade.
O processo de decisão é essencial aqui. É o que podemos chamar de governança corporativa. A empresa está no Brasil e os materiais extraídos estão no território brasileiro, mas o processo de decisão migrou para alguns acionistas-chave como BlackRock, Vanguard, UBS, JP Morgan e afins. Eles são os chamados proprietários ausentes, e isso mudou o sistema geral de governança. A Vale e sua empresa dependente Samarco sabiam que precisavam consertar as barragens que continham subprodutos contaminados da mineração – mas os proprietários ausentes decidiram que aumentar os dividendos era mais importante. O resultado foi a tragédia de Mariana e Brumadinho, enormes rompimentos de barragens, perda de vidas e contaminação geral. Os acionistas da Vale – como a empresa saudita Ma’aden, a americana BlackRock e a japonesa Mitsui – tomavam as decisões, maximizando os dividendos no curto prazo.
Uma impressionante série de processos judiciais seguiu-se e continua até hoje; as empresas terão que pagar dezenas de bilhões, mas estão “negociando”. Lembra-se a tragédia da plataforma Deepwater Horizon, da British Petroleum, no Golfo do México? Agora temos os relatórios, e o próprio processo foi encontrado. A BP havia suspendido a manutenção para aumentar os dividendos. E, como os bônus dos gerentes estão ligados aos dividendos, o processo de decisão privilegia o fluxo do dinheiro para o topo, não os resultados na base. É simples assim. O crescimento fantástico dos salários dos CEOs — de 20 para 300 vezes o salário médio da empresa, em algumas décadas – está diretamente ligado à explosão dos lucros financeiros (rentas, na verdade, já que não se baseiam em contribuição produtiva) no nível de gestão de ativos no topo, e ao crescimento lento no nível dos que produzem.
É difícil para as pessoas imaginarem onde fica o topo ou com o que ele se parece. A edição de 2024 da Forbes Bilionários do Mundo mostra as 2.781 pessoas nesta condição, no mundo, sentados sobre uma riqueza acumulada de US$ 14 trilhões — mais da metade do PIB dos Estados Unidos. Sua riqueza cresceu 17% em 12 meses. Como o crescimento do PIB foi de cerca de 3%, estamos enfrentando uma extração líquida pela pequena elite feliz . O principal processo de acumulação de riqueza é apenas marginalmente baseado em investimento produtivo, sendo essencialmente derivado de investimento financeiro. Basta controlar uma pequena parte das ações, no universo geral de acionistas dispersos, para impor o controle das empresas por parte das principais corporações de gestão de ativos.
Em Titans of Capital (2024), Peter Phillips nos traz o panorama geral do sistema de governança global. “Os 0,05% mais ricos do mundo são 40 milhões de pessoas, incluindo mais de 36 milhões de milionários e 2.600 bilionários, que repassam seu capital excedente para empresas de gestão de investimentos como BlackRock e JP Morgan Chase. As dez maiores entre estas empresas controlavam juntas cerca de 50 trilhões de dólares em 2023. Essas empresas são gerenciadas pelas 117 pessoas identificadas abaixo. As dez maiores empresas de investimento de capital investem extensivamente umas nas outras. Os investimentos cruzados entre elas totalizaram US$ 320 bilhões em 2022. As práticas de investimento cruzado implicam um monitoramento próximo e recíproco das políticas de cada uma, e uma comunalidade de interesses mútuos na manutenção e crescimento do mercado. Os 117 Titãs decidem como e onde o capital global será investido.
As dez corporações gerenciaram US$ 26,1 trilhões em 2017 e US$ 49,5 trilhões em 2022, um crescimento de 89,4% em cinco anos. Isso nos dá não apenas a dimensão da concentração de poder econômico, mas também o nível de aceleração. Ao focar no que ele chama de titãs — os principais gestores desses 10 gigantes corporativos — Phillips traz uma nova abordagem, mas que converge de perto com a pesquisa suíça sobre a rede de controle corporativo mundial e a lista de bilionários da Forbes mencionadas acima. Temos, assim, o controle corporativo e os gigantes de riqueza resultantes, e agora passamos aos 117 diretores das 10 principais corporações. “Embora possa haver milhares de pessoas com riqueza pessoal igual ou maior do que a dos 117 titãs individuais, o que os torna significativos é sua responsabilidade pelas decisões de investimento de cerca de US$ 50 trilhões”.
“Sentados nos conselhos da mais alta concentração de riqueza de capital na rede global de investimentos, suas decisões aceleram a concentração de capital, impactam o meio ambiente, garantem lucros com guerras regionais e globais, minam as democracias e colocam em risco a estabilidade socioeconômica para todos.” Esses são os gestores do sistema global. Dois terços deles são americanos. “Eles nasceram nos Estados Unidos ou na Europa, foram criados em uma família rica e frequentaram uma universidade privada de elite… Eles levam a sério sua responsabilidade fiduciária de maximizar os retornos sobre os investimentos de capital sob seu controle.”
Isso tem pouco a ver com a competição de livre mercado. A maioria desses diretores gerencia simultaneamente interesses semelhantes, em corporações situadas entre as dez primeiras. Phillips apresenta suas posições em 133 corporações desse grupo. Assim, por exemplo, a BlackRock tem 17 diretores, com ativos sob gestão (AUM) de US$ 9,5 trilhões em 2022, e investimentos cruzados na Vanguard, StateStreet, CapitalGroup, FidelityInvestments e MorganStanley. Apenas como referência de proporções, enquanto em 2024 os diretores da BlackRock gerenciam mais de US$ 10 trilhões, o orçamento federal manejado pelo presidente dos Estados Unidos é de cerca de US$ 6 trilhões.
A maioria dessas 10 principais corporações de gestão de ativos investe e exerce controle em outro grupo de gigantes, as 7 empresas de tecnologia dos EUA5:
Os interesses convergentes de gestores de dinheiro e corporações de alta tecnologia alcançam cada um de nós por meio de diferentes áreas ou de intermediação, para compras ou na indústria da atenção — horas do nosso tempo diário. Também geram um novo sistema de controle pesado no topo, com poder extremamente concentrado, além de uma rede capilar global que atinge a todos nós. Eles controlam os três conselhos políticos de elite (Conselho de Relações Exteriores, Business Roundtable e Business Council), exercem uma influência-chave no Fórum Econômico Mundial, participam das principais instituições de inteligência e militares e das corporações produtoras de equipamentos bélicos; das 10 maiores corporações de petróleo e gás; das 6 maiores produtoras de carvão; das 5 maiores corporações de tabaco; das indústrias de plásticos, armas de fogo e jogos de azar; e do sistema prisional privado, em expansão. Tudo o que gera muito dinheiro.
Descendo a pirâmide, podemos ver como esses diretores da BlackRock determinarão decisões no mundo corporativo brasileiro:
A BlackRock está em muitas áreas da economia brasileira, mas também em muitos outros países. O denominador comum no processo de decisão é a maximização de curto prazo para os acionistas. Esse dinheiro virtual pode atingir, literalmente, todos os bolsos. A enorme dívida estudantil em todo o mundo afeta incontáveis estudantes, a dívida de saúde tornou-se um problema gigante – particularmente nos países onde os serviços de saúde foram privatizados – e todos nós contribuímos com parte de nossos gastos em todas as áreas, pagando através da Visa, por exemplo, pegando um Uber ou fazendo compras na Amazon. A desigualdade global tornou-se absurda, como documentado em muitos relatórios. Os dramas ambientais são igualmente desafiadores. Este estudo de Peter Phillips mostra os titãs desempenhando um papel fundamental em ambos os processos.
Larry Fink, bilionário e CEO da BlackRock, atua como curador do Fórum Econômico Mundial e continua se referindo a ESGs e responsabilidade corporativa. Jamie Dimon, presidente do Business Council e CEO da JP Morgan Chase, enfatiza que “esses princípios modernizados refletem o compromisso inabalável da comunidade empresarial em promover uma economia que sirva a todos os americanos.” De acordo com Phillips, “o Manifesto de Davos fornece aos Titãs uma justificativa moral para continuar seu caminho de desigualdade, enquanto se posicionam como sensíveis às preocupações com direitos humanos e meio ambiente.”
A concentração de poder econômico, social e político em nível planetário tem se acelerado nas últimas décadas, à medida que as tecnologias avançam e o poder gera mais poder, permitindo mais concentração. Estamos enfrentando uma enorme pirâmide de poder de geração de dinheiro, que devasta o mundo por meio da desigualdade e de catástrofes ambientais, e derrubam qualquer tentativa de regulamentação.
1Texto publicado originalmente em inglês, na revista digital Meer.
2 S. Vitali et al., A rede de controle corporativo global – ETH – 2011.
3 Forbes Brasil, ano XI, n. 118, 2024.
4 Peter Phillips – Titans of Capital: como a riqueza concentrada ameaça a humanidade – The Censored Press, Nova York, 2024.
5 US Big Stocks Surge – Visual Capitalist – O Valor Crescente dos Sete Magníficos
6João Peres – No Brasil, maior gestora de fundos do planeta tem investimento três vezes mais poluidor que na Europa e nos EUA – O Joio e o Trigo, 18 de maio de 2024.
Tradução: Antonio Martins