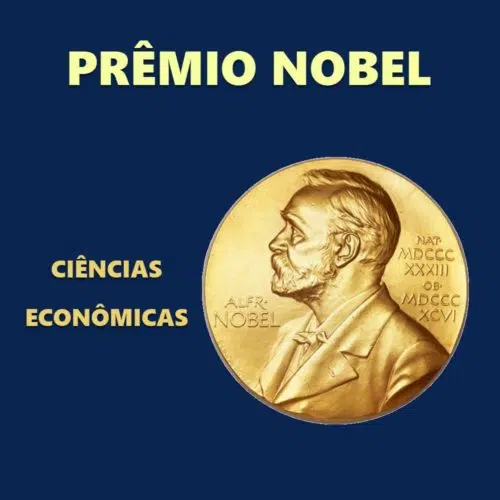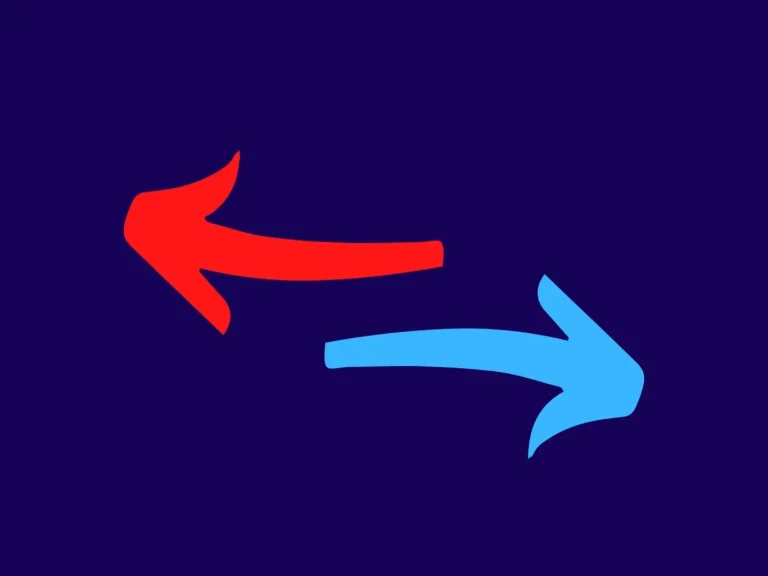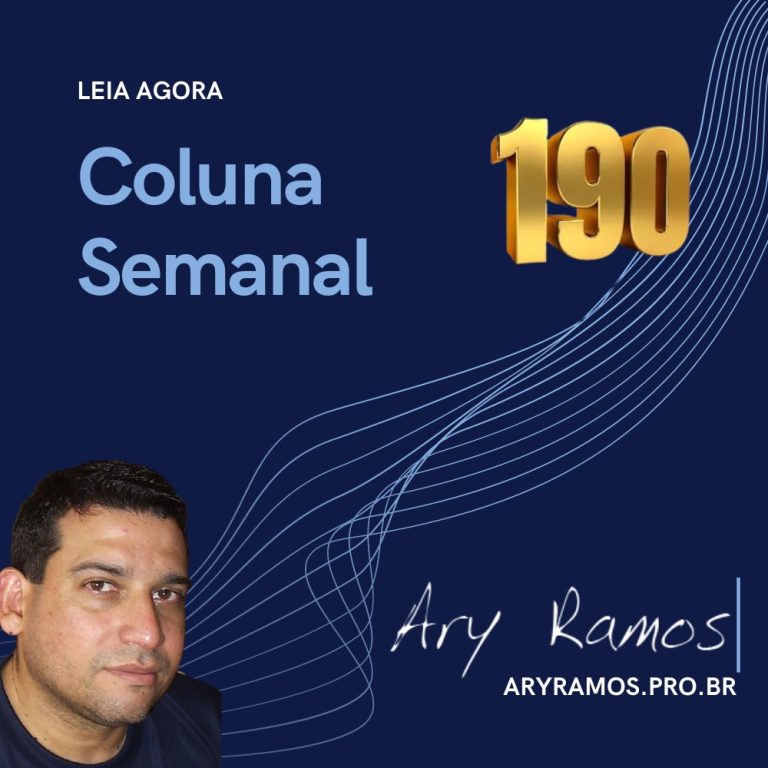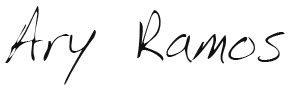“O pobre de direita: a vingança dos bastardos. O que explica a adesão dos ressentidos à extrema direita?”. Entrevista com Jessé Souza
Instituto Humanitas Unisinos – 08/10/2024
O pobre de direita: a vingança dos bastardos (Civilização Brasileira) é o mais novo livro de Jessé Souza, doutor em Sociologia pela Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemanha), autor de best-sellers como A elite do atraso (Leya) e A ralé brasileira (Civilização Brasileira), e um dos mais importantes sociólogos brasileiros da atualidade.
Nesta entrevista ao Extra Classe, Jessé discute como o ressentimento social, originado na humilhação e na exclusão, tem sido explorado por figuras como Jair Bolsonaro, que manipula as fragilidades de populações vulneráveis.
Independente de ganho econômico ou pauta de costumes, o novo trabalho do sociólogo indica que é o racismo que está na raiz da virada moralista que impulsionou a extrema direita no Brasil.
Para ele, de fato – em conexão a histórias de racismo e desigualdade no Brasil – há sentimentos que perpetuam a dominação por meio da manutenção de estruturas de poder que limitam o desenvolvimento de uma verdadeira democracia social.
Na conversa, Souza aprofunda o conceito de pobre de direita e revela como indivíduos desprivilegiados, tanto brancos quanto negros e mestiços, são seduzidos por discursos que prometem reconhecimento e dignidade, mesmo que isso signifique apoiar políticas que perpetuam sua própria opressão.
A entrevista é de Marcelo Menna Barreto, publicada por Extra Classe, 30-09-2024.
Confira a entrevista.
Você tem dito que o pobre de direita é o fenômeno mais importante do país hoje. Como assim?
Lembra que os pobres votavam em uníssono com o PT até 2016? O que foi que aconteceu para que, agora, metade dos pobres, pelo menos, votem em partidos elitistas e na extrema-direita? Aquela história da barata votando no chinelo, contra seus melhores interesses. As explicações que existem para isso não são boas. Uma diz que essas pessoas são burras, o que não é verdade; os seres humanos são inteligentes. Outra resposta, mais acadêmica, diz que é uma mera filiação religiosa. Como se não tivesse que explicar por que as pessoas procuram e escolhem uma certa orientação religiosa. A causa é muito mais profunda.
Chama a atenção no seu livro O Pobre de Direita o subtítulo: A Vingança dos Bastardos. Imagino que isto tenha relação ao comportamento chave que diversos estudiosos sobre a extrema-direita identificam, o ressentimento. É por aí?
Exatamente, é por aí. Mas esse ressentimento precisa ser explicado. Ressentimento é uma palavra que precisa ser definida; mas, obviamente, tem a ver com o quê? Tem a ver com o sentimento de humilhação que as parcelas mais econômicas das classes populares sofrem, ainda que as classes populares não sejam a mesma coisa. No Brasil, 80% do povo que ganha abaixo de cinco salários – metade ganha entre 2 e 5 salários e a outra metade abaixo de dois salários mínimos -, você teria duas classes. Uma classe que eu chamo provocativamente de ralé, a de oprimidos, de odiados, de abandonados, é 40%. Estão abaixo, ficam de zero a dois salários mínimos. E a que eu já chamei em outro livro de batalhadora, uma espécie de classe trabalhadora precária entre nós. Estes são bastardos de quê? Eles são os bastardos da nação brasileira, do projeto da nação brasileira. Desde Getúlio Vargas se tem a ideia de que isso aqui pode ser um país rico para todos, não apenas para uma pequena minoria, o 0,1% que tem toda a propriedade relevante e explora todo o mundo.
E a, digamos, classe média real?
É comparável a uma classe média europeia ou americana. Não chega nunca aqui, em nenhum lugar, a 20% da população. Esses 80% que estão abaixo de 5 salários, sofrem uma humilhação objetivamente. Não tem dinheiro, nem conhecimento incorporado. Assim, vão ser expostos à vergonha, a obrigações, etc., etc., etc. Ou seja, vão ser bastardos de um projeto de desenvolvimento que foi abortado.
Mas, o conceito não é novo, não? Tim Maia nos anos 1980 já dizia, entre outras coisas, que o Brasil não podia dar certo porque pobre é de direita (risos). Além de um contraponto ao socialista de iPhone, a que você atribui a popularização do termo pobre de direita?
A popularização do termo pobre de direita parece estar diretamente ligada à figura de Jair Bolsonaro. Ele conseguiu transformar vulnerabilidades sociais em algo perigoso. Manipulou as fragilidades do povo contra o próprio povo mesmo. Foi esse cenário que me levou a escrever sobre o tema. Acho que a questão central no Brasil hoje é justamente essa: como alguém, que tem seus direitos e dignidade tolhidos, pode defender formas de opressão que perpetuam sua condição?
No início da nossa conversa você falou de respostas e que há complexidade para a origem desse fenômeno. Qual a sua conclusão?
A resposta mais comum tende a ser racionalista ou simplista, atribuindo a explicação a fatores como a mentalidade conservadora ou religiosa, especialmente entre a população evangélica. No entanto, essa abordagem me parece insuficiente. Para entender de fato esse fenômeno, é preciso conectar os erros do passado ao presente e tentar projetar para o futuro. A compreensão não pode ser fragmentada; ela exige uma visão integrada. O que Bolsonaro fez foi explorar exatamente as vulnerabilidades dessas pessoas. Ele se dirigiu a uma parcela da população que trabalha em condições precárias, seja em empregos de nível técnico ou em ocupações que desumanizam o trabalhador. E essa parcela da população, muitas vezes privada de acesso ao conhecimento – o que explica os ataques de Bolsonaro às universidades, artes e cultura – reage com raiva, mas sem direcionar essa raiva à fonte real de seus problemas.
Parece que também temos aí outros exemplos na história, não?
Essa situação lembra os trabalhadores ingleses do início do século 19, que, sem entender as causas de sua opressão, quebravam as máquinas nas fábricas. Da mesma forma, muitos hoje atacam as expressões culturais e intelectuais, sem perceber que estão lutando contra os efeitos, e não contra a origem de sua marginalização. No fundo, o que essas pessoas buscam é reconhecimento, algo fundamental na modernidade. Esse reconhecimento pode vir tanto do trabalho, que, quando valorizado, traz respeito e autoestima, quanto das relações pessoais e da construção de uma identidade moral. Ao escolher uma denominação religiosa ou adotar valores conservadores, muitos encontram uma forma de se sentirem superiores ou moralmente distintos, o que faz parte do mecanismo de uma sociedade hierarquizada.
Um ponto muito interessante foi a sua ideia em jogar luz sobre a parte majoritariamente branca do país (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e a “majoritariamente negra e mestiça – de São Paulo ‘para cima’ no mapa”. Como se deu a metodologia para a coleta de dados que culminou em sua análise e a produção do livro?
A metodologia que resultou no livro não foi apenas técnica, baseada em dados frios, mas também se formou a partir das minhas vivências e experiências pessoais. Quando me mudei para São Paulo em 2017, isso foi crucial para entender o Brasil de uma forma diferente. Percebi que São Paulo é o centro das decisões do país. As elites paulistas, com toda sua diversidade, concentram um poder que é difícil encontrar paralelo em outro lugar. São Paulo é o coração do Brasil decisório, um espaço onde florescem todas as influências, e essa realidade me permitiu enxergar as dinâmicas regionais de forma mais profunda. Ao mesmo tempo, por meio de viagens ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fui conhecendo melhor a história e o orgulho dos descendentes de imigrantes europeus. Há, nessas regiões, uma continuidade histórica muito clara, um orgulho de sangue que, em muitos casos, impede que esses grupos se vejam como parte integral do povo brasileiro. Existe uma distinção simbólica e social que é mantida até hoje, especialmente em relação aos nordestinos. E essa visão se expressa em preconceitos que ecoam ideias absurdas, como a de que nordestinos “vivem de graça”, quando, na realidade, são trabalhadores incansáveis.
O que está por trás disso?
A grande questão por trás dessa dinâmica é que o comportamento humano, em sua essência, não é ditado exclusivamente por fatores econômicos. Ao contrário do que muitos afirmam, nunca foi apenas sobre economia. A economia é, na verdade, uma construção moral. Toda estrutura de produção e distribuição de bens carrega consigo uma teoria implícita de justiça e moralidade, definindo quem fica com a melhor ou a pior parte. Assim, o racismo no Brasil não pode ser explicado apenas pela dimensão econômica, mas sim pela forma como a moralidade e as hierarquias sociais foram moldadas ao longo da história.
O racismo sempre presente, então?
Sim. E é justamente aí que entra o racismo. A ideia de um Brasil cordial, onde não se fala abertamente sobre racismo, é enganosa. O racismo continua existindo, mas agora sob máscaras, disfarçado em preconceitos regionais e culturais. O racismo racial foi transformado em racismo cordial, o que faz com que as pessoas não se identifiquem mais como racistas, mas reproduzam comportamentos e narrativas que perpetuam as mesmas desigualdades.
Racismo racial?
Sim. Porque, agora, temos o racismo regional. Esse racismo se manifesta de forma particularmente evidente no preconceito contra os nordestinos. É uma continuidade do racismo racial, apenas sob diferentes formas. Os descendentes de imigrantes no Sul do Brasil, por exemplo, muitas vezes se orgulham de sua disciplina, de seu “amor ao trabalho”, como se isso fosse uma característica exclusiva e superior. É, em essência, uma forma de racismo. E isso afeta as mesmas pessoas que o racismo racial atinge. O ponto crucial é que o racismo regional não é algo menor, como pode parecer à primeira vista.
Explique.
Ele é uma variação do mesmo racismo estrutural que molda as relações de poder no Brasil. E é nesse contexto que o fenômeno do pobre de direita pode ser melhor compreendido. Uma grande parte da população branca pobre do Sul e de São Paulo, que corresponde a cerca de 60% dessas regiões, compartilha dessa visão pobre de direita, enquanto os 20% que são ricos acabam por não contar tanto na dinâmica social. Esse racismo, sob suas diversas formas, é fundamental para entender como essas pessoas classificam e avaliam o mundo, e ele está no cerne das divisões sociais e políticas do país.
Fora o ressentimento, o que você identificou como similar entre esses pobres de direita brancos e negros ou mestiços?
A semelhança entre os pobres de direita, sejam eles brancos, negros ou mestiços, está profundamente relacionada com uma necessidade essencial de reconhecimento, algo que a literatura neohegeliana explora bastante. A necessidade de ser reconhecido é uma das mais prementes, especialmente para aqueles que vivem à margem. Nós, da classe média, não experimentamos esse tipo de humilhação constante. Para entendê-los, é preciso se colocar no lugar deles, e isso significa compreender o sofrimento diário que essas pessoas enfrentam. A humilhação, para essas pessoas, não é algo pontual – é uma constante, algo que molda sua vida 24 horas por dia. É como se até nos sonhos a humilhação continuasse, porque o material dos sonhos é o que vivemos durante o dia. Imagine alguém que precisa passar três horas em um ônibus para chegar em casa. Isso é um exemplo claro de uma experiência diária de humilhação. Essas pessoas estão imersas nesse ciclo de desvalorização e dor.
E o que alguém que vive assim deseja?
Escapar. Nem que seja por um momento, dessa condenação. Aí entra o papel de um líder ou de uma ideologia que oferece uma saída simbólica. Alguém chega e diz: “Você é melhor porque é hétero, porque não é gay.” Isso, de repente, se transforma em uma boia de salvação. Por um instante, aquela pessoa que se sente constantemente humilhada encontra algo que a faz se sentir digna, respeitada. Isso é o que chamo de manipulação das vulnerabilidades do pobre. Quando você explora essa necessidade de reconhecimento, você está oferecendo uma fuga temporária da humilhação. A extrema-direita entendeu isso há muito tempo e usa esse conhecimento para captar essas pessoas, jogando com seus anseios e frustrações de maneira calculada.
O que diferencia os pobres de direita brancos, negros e mestiços?
O que diferencia é que a situação do negro é muito pior. A diferença está no nível de exclusão que cada um enfrenta. No caso do negro, a situação é significativamente pior. Para entender isso, é preciso lembrar que a hierarquia social que discutimos coloca as pessoas em diferentes níveis de reconhecimento, especialmente no trabalho. Algumas, geralmente da classe média ou da parte superior da classe trabalhadora, conseguem um certo reconhecimento, uma sensação de que seu trabalho é valorizado, que têm um papel na sociedade. No entanto, há aqueles que ficam para trás – seja por razões de classe, de família, ou ambos.
Por exemplo?
O branco pobre, por exemplo, pode perceber sua exclusão como uma diminuição de seu valor. Ele vê outros brancos que têm acesso à educação, aos cargos mais altos e ao capital, e essa comparação o fere, porque ele acredita que, como branco, ele deveria estar num patamar melhor. Seu ressentimento nasce dessa crença: ele se vê como alguém que deveria ocupar um lugar de destaque, mas não consegue. Agora, o caso do negro é muito mais grave. A luta dele não é apenas por melhores oportunidades econômicas ou sociais; é uma luta para ser reconhecido como humano, algo básico. O negro enfrenta uma negação constante de sua própria humanidade, de seu direito de existir no mundo. Ele precisa lutar, diariamente, para afirmar que tem o direito à vida, algo que o branco pobre já presume ter. A base do ressentimento do branco pobre é a perda de um status que ele acredita que deveria ter, enquanto o negro nem sequer é considerado parte da estrutura de poder e reconhecimento desde o início.
Em outras palavras?
O branco pobre se sente deslocado de um lugar que acha que deveria ocupar, enquanto o negro luta para ser minimamente reconhecido como parte da sociedade. Esse é o nível mais profundo da exclusão racial no Brasil: o branco pobre ainda tem um lugar presumido no mundo, mesmo que inferior ao de outros brancos. Já o negro é constantemente negado, em múltiplas esferas, de seu direito de existir com dignidade.
Você afirma “Nunca foi a economia, tolinho!”, em contraste com a famosa frase “É a economia, estúpido!”. Como dizer isso, considerando que governos caíram por causa de mau desempenho econômico (Collor e Dilma), ao mesmo tempo que Lula, mesmo com a questão do Mensalão, conseguiu se reeleger e terminar seu segundo mandato com altíssima popularidade?
Isso é uma questão filosófica fundamental. Eu entendo a economia como economia política. Quando você pensa em economia política, já está envolvendo moralidade. A forma como se distribui e produz bens tem uma dimensão moral que geralmente não é visível. O que as pessoas enxergam é a economia como um conjunto de números e fatos isolados, mas isso não é a verdade completa. Por exemplo, a Dilma começou a ser atacada em 2012, quando a economia ainda estava indo bem, porque ela tentou cortar pela metade a taxa de juros e vinha reduzindo a taxa há anos. Isso não é sobre economia pura, é política. E política sempre está ligada à moralidade, questões éticas, sociais. Então, quando digo “nunca foi a economia”, é porque a economia em si, como algo neutro e imutável, não existe. Isso é uma ilusão criada para manter o sistema de dominação, para parecer que há uma ordem econômica natural que não pode ser questionada. A economia é política, e é por isso que tentar formalizá-la em equações e números não dá conta da realidade.
Você diz no livro que este extrato da população que hoje é identificada como pobres de direita já elegeu quatro vezes seguidas um partido de esquerda para presidir o Brasil. Três vezes, sob a pecha do Mensalão. Você identifica a Operação Lava Jato como um dos pontos de inflexão?
Sim. A Lava Jato foi o golpe que conseguiram consolidar. Tentaram antes, com o Mensalão, e não conseguiram. Naquela época, faltava organização, mas depois, os americanos decidiram treinar o pessoal. Surgiu em um pretexto de estudar e combater lavagem de dinheiro, mas, na verdade, era uma forma de capacitar agentes no Estado para enfraquecer governos de esquerda, que os Estados Unidos não queriam ver prosperar. Os Estados Unidos nunca toleraram projetos de democracia soberana na América Latina. Aí entra a aliança entre a elite norte-americana e a elite brasileira, que também tinha seus interesses. O governo estava começando a redistribuir uma parte mínima da renda e do orçamento público, o que, para essas elites, já era intolerável. A Lava Jato começou a ser gestada em 2007 e culminou em 2014, com a dobradinha entre o juiz Moro e o procurador Dallagnol. Ambos foram endeusados pela mídia, especialmente pela Rede Globo.
Não foi pela corrupção, foi pela política?
Como não conseguiram no voto, a Lava Jato foi o caminho encontrado para remover o PT do poder. Por meios extraeleitorais, usando o sistema jurídico como arma política. No Brasil, a Lava Jato teve o objetivo de desmantelar o projeto de desenvolvimento iniciado por Getúlio Vargas e retomado por Lula, a construção de uma indústria nacional, baseada em petróleo, gás e infraestrutura. Refinarias foram abandonadas, passamos a exportar o petróleo cru e depender dos produtos refinados de fora. A Lava Jato foi o mensageiro desse pacto entre a elite nacional anti-industrial e os interesses americanos, que não queriam ver o Brasil se industrializar. E, quando o objetivo foi cumprido, a operação praticamente se extinguiu.
Fale sobre esta elite brasileira anti-industrial.
A elite brasileira é anti-industrial no sentido de que nunca foi realmente empreendedora. Nunca foi elite. A questão dessa gente sempre foi roubar o Estado. É subsídios para quem não precisa; é o rentismo. Em vez de promover investimentos que impulsionem a economia, o foco é “mamar” o orçamento público. Mais da metade dos recursos do governo vai para uma pequena elite que detém os títulos da dívida pública, uma dívida que, na verdade, é obscura e nunca foi aplicada em benefícios concretos para o país.
Uma dívida, aliás, que todo mundo paga.
O grande problema é que a população paga por algo que nem entende. É uma dívida que, em boa parte, pode ser fraude. O Equador, por exemplo, fez uma auditoria e descobriu que 70% da sua dívida era fraudulenta. Quem estuda a dívida pública brasileira sugere que essa fraude pode chegar a 90% aqui. É uma estrutura de saque montada pela elite que tem o controle do Banco Central, o apoio de figuras políticas como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a imprensa sob seu domínio. Ou seja, ou eles são donos dos veículos de mídia, ou são seus maiores anunciantes. Assim, controlam o discurso que chega à maioria da população. Com o Banco Central nas mãos, com políticos e a mídia no bolso, a elite faz o que quer, manipulando a economia de acordo com seus próprios interesses.
Você vê formas de sair desta armadilha que acabou criando o pobre de direita?
Essa questão é a de um bilhão de dólares. Para sair dessa armadilha, é preciso criar uma contra-hegemonia, como diria o velho Gramsci. Ele percebeu que o poder não é apenas material, mas fundamentalmente ideológico. São as ideias que moldam o comportamento e tornam certas realidades aceitáveis. Nesse sentido, a mudança não vem apenas por confrontar a estrutura material, mas por disputar a narrativa, o controle das ideias. Hoje, o problema é que não há um esforço coordenado para apresentar uma visão alternativa da sociedade. As publicações, os meios de comunicação, são tratados como se não fossem tão importantes. Falta uma estratégia clara para fazer com que essas ideias alternativas cheguem às pessoas. Pode ser por rádios comunitárias, iniciativas locais, qualquer meio que agregue. O grande drama é que parece que as pessoas nem percebem a urgência disso.
Qual a dimensão desse drama?
Quando as ideias dominantes se tornam naturalizadas, quase não há questionamento. A religião fundamentalista, por exemplo, entra nesse jogo e, podendo até se diferenciar de figuras como Bolsonaro, no fundo, continua apoiando interesses de privatização, juros altos e políticas que beneficiam uma minoria. E quem vai desmascarar essa realidade para as pessoas? Quando o mundo é falseado e essa falsa realidade se impõe como a única possível, as barreiras ficam quase que intransponíveis.