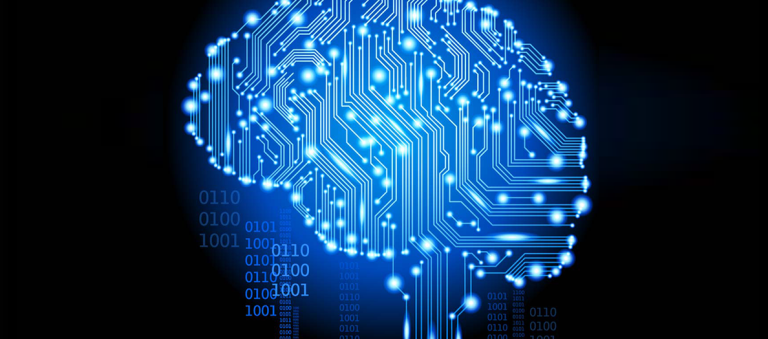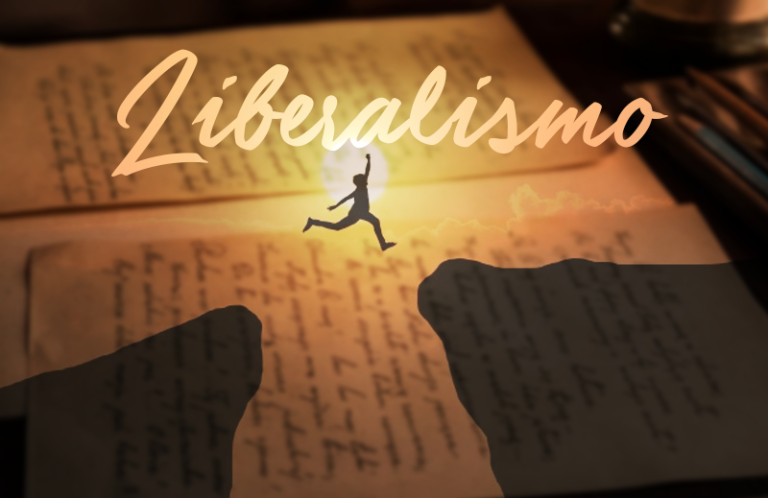Ampliar agressão econômica e geopolítica à China, potência nuclear. Impor novas restrições ao comércio internacional. Ameaçar Irã, Coreia do Norte, Venezuela e até o México. Visita à delirante (e perigosíssima) agenda externa do candidato
Mel Gurtov – OUTRAS PALAVRAS – 05/11/2024
Uma conspiração de extrema direita às claras
O Projeto 2025, o ambicioso guia de planejamento de políticas da extrema direita publicado como Mandate for Leadership (Mandato para Liderança), foi concebido para desmantelar o “Estado Profundo” e instalar um presidente e aliados leais que levarão adiante a agenda autoritária de Donald Trump. Agora, ele supostamente não existe mais – mas não é verdade. A campanha de Trump, preocupada com a má impressão que o Projeto 2025 estava recebendo, ordenou que ele fosse desconectado. Mas não se engane: embora Trump possa discordar de algumas das recomendações, o projeto foi concebido com ele, e somente ele, em mente.
Trump afirma que “não sabe nada sobre o Projeto 2025”, mas seu nome aparece no documento mais de 300 vezes; a CNN conta pelo menos 140 pessoas que trabalharam no documento do Projeto 2025 e que trabalharam anteriormente para o governo Trump; e Trump mantém laços estreitos com a Heritage Foundation, que publicou o documento. Se houver outra presidência de Trump, os colaboradores do Projeto 2025, muitos da Heritage Foundation e outros de uma rede de extrema direita em Washington chamada Conservative Partnership Institute, povoarão seu governo.
Nesta análise em duas partes, exploro os capítulos do Mandate for Leadership que dizem respeito a assuntos internacionais e à política externa dos EUA. Na primeira parte, observarei os aspectos autoritários do documento e, em seguida, examinarei suas propostas de políticas com relação à China e à Rússia. Na parte 2, examinarei o que o documento tem a dizer sobre comércio, armas nucleares e gastos militares, Coreia do Norte, Oriente Médio e América Latina.
O plano para reordenar os Estados Unidos
A maior parte da atenção da mídia dos EUA e dos legisladores democratas tem sido dedicada, com razão, ao lado doméstico da agenda do Projeto 2025 – seus planos para colocar o Departamento de Justiça a serviço do presidente, livrar-se do Departamento de Educação como um passo para emascular a educação pública, tornar os Estados Unidos indesejáveis para imigrantes negros, proibir o aborto em todo o país, dar ao setor de combustíveis fósseis o que ele quiser e conter a dissidência pública.
As ideias sobre relações exteriores seguem essa agenda porque, para serem implementadas, todas elas dependem de um executivo todo-poderoso e de uma burocracia que foi expurgada de liberais e esquerdistas. (“Grande parte da força de trabalho do Departamento de Estado é de esquerda e está predisposta a discordar da agenda e da visão política de um presidente conservador”, diz o documento).
O Projeto 2025 propõe três tarefas essenciais de governança para promover sua causa: reafirmar o papel dominante do presidente na formulação de políticas, desmantelar as principais agências governamentais preocupadas com o bem-estar social e substituir muitos funcionários públicos que não passam no teste de lealdade (eles serão reclassificados como trabalhadores comuns) por funcionários políticos leais ao chefe do Executivo. O plano busca maneiras de contornar a burocracia do governo, o que, por si só, é um objetivo comum a todas as administrações anteriores.
Mas ele difere drasticamente em sua submissão aos impulsos autoritários de Trump. Todas as páginas do documento enfatizam que os funcionários e outros membros da equipe devem alinhar seus pontos de vista com os do presidente, com a forte implicação de que não fazer isso resultará em demissão ou reatribuição. É uma fórmula para limitar o debate político dentro das agências ou entre elas ao que o presidente já decidiu.
Política da China e da Rússia
O Projeto 2025 é absolutamente obcecado pela China. Como já aconteceu com as opiniões dos EUA sobre a União Soviética, agora acredita-se que a China esteja por trás de todas as situações problemáticas em todos os continentes. A China recebe tanta atenção, diz o autor da seção sobre o Departamento de Estado, porque ela é “a ameaça definidora”.
Esse é Kiron K. Skinner, que anteriormente era responsável pelo planejamento da política de Trump no Departamento de Estado e depois se juntou à equipe da Heritage Foundation. Da mesma forma, escreve Christopher Miller na seção sobre o departamento de defesa, “Pequim representa um desafio aos interesses americanos em todos os domínios do poder nacional”. (Miller, um coronel aposentado das Forças Especiais, foi o secretário de defesa interino de Trump por cerca de três meses).
Além disso, a ameaça militar que a China representa é especialmente grave. Ele retrata a China como uma “ameaça imediata” a Taiwan e aos aliados dos EUA no Pacífico, sem mencionar o perigo nuclear, tudo isso sem nenhuma evidência convincente. No entanto, Miller recomenda como prioridade máxima “a construção de um planejamento de força convencional para derrotar uma invasão chinesa em Taiwan antes de alocar recursos para outras missões. . .” Essas outras missões provavelmente incluem a Ucrânia.
Skinner critica a política de Biden para a China por estar tratando a China com indulgência. Ela argumenta que alguns profissionais de política externa “conscientemente ou não, ‘papagaiam’ a linha comunista. Líderes globais, incluindo o presidente Joe Biden, tentaram normalizar ou até mesmo elogiar o comportamento chinês”.
Na verdade, o oposto é verdadeiro. Biden também exagerou a ameaça da China e rotulou Xi Jinping de “ditador”. Quando Skinner escreve que a China é um país “cujo comportamento agressivo só pode ser contido por meio de pressão externa”, ele optou por ignorar como, sob o comando de Biden, os EUA alinharam vários países do Leste Asiático, incluindo Japão, Índia, Coreia do Sul e Filipinas, em uma coalizão contra a China – e é por isso que Pequim acusa os EUA de novamente seguir uma política de contenção.
O tratamento dado pelo Projeto à Rússia está muito distante de sua análise da China. A Rússia é uma ameaça apenas com relação à segurança da Ucrânia. Não há nenhuma consideração sobre a crença de Vladimir Putin no excepcionalismo russo, suas ideias políticas, seu histórico de direitos humanos ou suas ambições imperiais. (O documento do Projeto 2025 dá mais espaço para o Ártico do que para a Rússia).
Skinner observa três vertentes do pensamento conservador sobre a política da Ucrânia e conclui:
“Independentemente dos pontos de vista, todos os lados concordam que a invasão da Ucrânia por Putin é injusta e que o povo ucraniano tem o direito de defender sua pátria. Além disso, o conflito enfraqueceu muito a força militar de Putin e impulsionou a unidade da OTAN e sua importância para as nações europeias.”
Skinner conclui que o apoio dos EUA à Ucrânia deve continuar, desde que seja “totalmente pago; limitado à ajuda militar (enquanto os aliados europeus atendem às necessidades econômicas da Ucrânia); e tenha uma estratégia de segurança nacional claramente definida que não arrisque vidas americanas”.
Alguns desmentidos de Trump
Donald Trump nunca falou sobre o direito de autodefesa da Ucrânia ou sobre a importância da unidade da OTAN diante da agressão russa. Ele também não concorda com o pagamento integral da missão na Ucrânia. A principal preocupação de Trump são as relações com a Rússia e a Europa, não a segurança da Ucrânia. Ele já disse várias vezes que Putin é um grande amigo, que Putin não teria iniciado uma guerra com a Ucrânia se Trump fosse o presidente e que ele, Trump, vai elaborar um acordo de paz muito rapidamente.
Pode ser por isso que a Ucrânia nem sequer seja mencionada na plataforma do Partido Republicano, que se refere simplesmente à restauração da “paz na Europa”. Em resumo, Trump quer se livrar do problema da Ucrânia apaziguando a Rússia. Ele só está na mesma página do Projeto 2025 ao argumentar que a Europa e a OTAN devem ser tratadas em termos transacionais, ou seja, ao insistir que os europeus paguem mais pela defesa e ofereçam mais em termos de comércio.
Trump também pode não estar totalmente de acordo com o Projeto 2025 no que diz respeito a Taiwan. Como ele já demonstrou no passado, o ganho financeiro e a vingança são marcas registradas de sua abordagem às relações internacionais, seja lidando com amigos ou adversários.
Lembre-se de que Trump assumiu o cargo em 2017 acreditando que tanto o Japão quanto a China haviam enganado os EUA nas relações comerciais. Em seguida, ele se distanciou da OTAN, argumentando que seus membros precisam pagar mais por sua defesa ou sacrificar o apoio dos EUA.
Portanto, quando lhe perguntaram, em uma entrevista à Bloomberg News em 25 de junho, qual seria sua política em relação a Taiwan, ele não pensou em defender a ilha, o que os republicanos no Congresso consideram a primeira prioridade, mas sim o seguinte: “Eles ficaram com cerca de 100% do nosso negócio de chips. Acho que Taiwan deveria nos pagar pela defesa. Sabe, não somos diferentes de uma companhia de seguros. Taiwan não nos dá nada”. Isso não significa que Trump abandonará Taiwan; ele pode simplesmente estar pressionando o país a pagar mais, assim como exigiu da OTAN.
Segunda Guerra Fria
Em resumo, o Projeto 2025 é menos uma análise séria e objetiva do que um documento ideológico. Ele eleva o nível das ameaças internacionais aos interesses dos EUA, sendo a China o inimigo central; apoia uma enorme expansão do poder presidencial; pede uma ênfase maior do que a de Biden na modernização e expansão das armas nucleares; deixa para os aliados a principal responsabilidade de confrontar a Rússia; pressiona por grandes aumentos no orçamento militar dos EUA; e defende o fortalecimento da base industrial de defesa dos EUA e o aumento das vendas de armas estadunidenses no exterior.
Não procure por iniciativas diplomáticas, questões de direitos humanos, preocupações ambientais, o papel do direito internacional ou discussões sobre pobreza, autocracia ou democracia. Se uma agenda Trump-Projeto 2025 for implementada, podemos esperar crises cada vez maiores na Europa Central e no Oriente Médio, novas corridas armamentistas com a Rússia e a China, outra guerra comercial com a China e novas tensões no Estreito de Taiwan.
Um “gênio estável” estará no comando. Qualquer pessoa que não tenha vivido a primeira Guerra Fria terá uma oportunidade de vivê-la agora.
O retorno do “Tariff Man”
O capítulo de Navarro está totalmente alinhado com as ideias de Trump, o “Tariff Man”, sobre política comercial. Navarro argumenta que uma política comercial dos EUA que se iguale às altas tarifas da China, da Índia ou de qualquer outro país é a melhor maneira de reduzir o déficit comercial dos EUA. Segundo ele, a imposição de tarifas elevadas também forçará as empresas multinacionais dos EUA a construir fábricas no país e será bom para os agricultores estadunidenses (Lembre-se de que nada disso aconteceu durante o mandato de Trump).
Navarro também é a favor do comércio e da dissociação financeira da China, que ele acusa de nada menos que cinquenta formas de “agressão econômica”. Bem conhecido por sua visão ideologicamente voltada para a China, Navarro escreve que os chineses “nunca negociam de boa fé”. Suas propostas praticamente acabariam com a maior parte do comércio com a China, com os investimentos dos EUA no país asiático e com os investimentos chineses nos EUA. Os intercâmbios educacionais e de pesquisa com a China também seriam bastante restritos.
Os custos dessas propostas para os consumidores e as instituições de pesquisa científica e tecnológica dos EUA, o impacto sobre as cadeias de suprimentos globais, a provável retaliação na forma de uma interrupção das exportações chinesas de terras raras e outros minerais vitais para os EUA e o aumento das tarifas da China em resposta às tarifas mais altas dos EUA – todos esses resultados muito prováveis nunca são considerados por Navarro, assim como não o foram por Trump como presidente.
Alguém poderia ler o capítulo de Navarro e pensar que ele e Trump se opõem aos interesses das corporações multinacionais e estão profundamente preocupados com os interesses dos trabalhadores americanos. Mas sabemos, por experiência própria, como Trump mascarou seu objetivo real de obter favores do grande capital, conforme evidenciado por seus cortes de impostos que beneficiaram principalmente o 1% das famílias mais ricas e sua dependência de grandes doações de alguns dos líderes corporativos mais ricos. Agora, Trump propõe reduzir a alíquota do imposto corporativo de 21% no projeto de lei fiscal de 2017 (que era de 35%) para 15%. E você pode apostar que Trump nomeará chefes da Comissão Federal de Comércio e do Federal Reserve que são fãs da América corporativa.
Políticas: Irã, Coreia do Norte, Venezuela, México, armas
Sobre o Irã, o Projeto 2025 diz: “os Estados Unidos podem utilizar suas próprias ferramentas econômicas e diplomáticas e as de outros países para facilitar o caminho rumo a um Irã livre e a um relacionamento renovado com o povo iraniano”. Como fazer isso? Outra reversão às políticas anteriores de Trump: sanções mais severas, apoio a Israel para “tomar o que considerar medidas apropriadas para se defender contra o regime iraniano” e, por fim, buscar uma mudança de regime. O Oriente Médio recebe pouca atenção.
Sobre a Coreia do Norte: “Os Estados Unidos não podem permitir que a Coreia do Norte continue a ser uma potência nuclear de fato com a capacidade de ameaçar os Estados Unidos ou seus aliados. . . . Não se deve permitir que a RPDC lucre com suas violações flagrantes de compromissos internacionais ou ameace outras nações com chantagem nuclear. Ambos os interesses só podem ser atendidos se os EUA não permitirem o comportamento desonesto do regime da RPDC.” Deixando de lado o significado de “proibir” e “não permitir”, essa proposta segue o fracasso de Trump em fechar um acordo com Kim Jong Un quando ele teve a chance. O Projeto 2025 deixa em aberto a possibilidade de outra rodada de ameaças nucleares entre os EUA e a Coreia do Norte.
A Venezuela é o foco da seção América Latina do Projeto 2025. Ele diz: “o próximo governo deve tomar medidas importantes para colocar os abusadores comunistas da Venezuela em alerta e, ao mesmo tempo, fazer progressos para ajudar o povo venezuelano”. Esse conselho ambíguo foi amplamente superado pelos acontecimentos. A eleição presidencial contestada da Venezuela em 28 de julho já levou os EUA a reconhecer o oponente do presidente Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez, como o vencedor, manter as sanções e oferecer a Maduro anistia e uma carona para fora do país. Por enquanto, o governo Biden tem contado com os antigos amigos da Venezuela – os presidentes do México, Brasil e Colômbia – para tentar persuadir Maduro a renunciar. No entanto, não há sinais de que, sob Biden, os EUA colocarão Maduro “em alerta”.
O México é tratado como um “Estado cartel” que perdeu sua soberania. “O próximo governo”, diz o documento do Projeto, ‘deve adotar uma postura que exija um México totalmente soberano e tomar todas as medidas à sua disposição para apoiar esse resultado da maneira mais rápida possível’. A falta de soberania total do México é um argumento para uma intervenção mais direta dos EUA no México? Sabe-se que Trump já expressou a opinião, enquanto presidente, de que os EUA deveriam considerar invadir o México sob o pretexto de interromper o comércio de drogas.
Com relação a armas nucleares e gastos militares, o Projeto 2025 propõe aumentar a produção e a modernização de armas nucleares e retomar os testes com elas (em violação ao Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares). Essas ideias, totalmente alinhadas com a paixão de Trump por armas nucleares, estão todas ligadas a propostas para grandes aumentos no orçamento militar dos EUA, para fortalecer a base industrial de defesa estadunidense e para aumentar as vendas de armas dos EUA no exterior. Como se Biden já não estivesse gastando o suficiente com as forças armadas e armas nucleares, ou se afastando da venda de armas!
Conclusão
Em resumo, nas relações exteriores e na segurança nacional, o Projeto 2025 eleva o nível das ameaças internacionais aos interesses dos EUA, com a China como inimigo central; apoia uma enorme expansão do poder presidencial, às custas da diplomacia e das descobertas de inteligência; pede uma ênfase maior do que a de Biden na expansão militar-industrial, incluindo a modernização de armas nucleares; deixa para os aliados a principal responsabilidade de confrontar a Rússia; e parece defender a mudança de regime no Irã, na Venezuela e até no México. Como presidente, Trump teria a liberdade de aceitar ou rejeitar qualquer parte das ideias do Projeto 2025. Mas o que quer que ele aceite não será menos perigoso do que qualquer uma das ideias que ele, como um “gênio estável”, carregou consigo do passado.