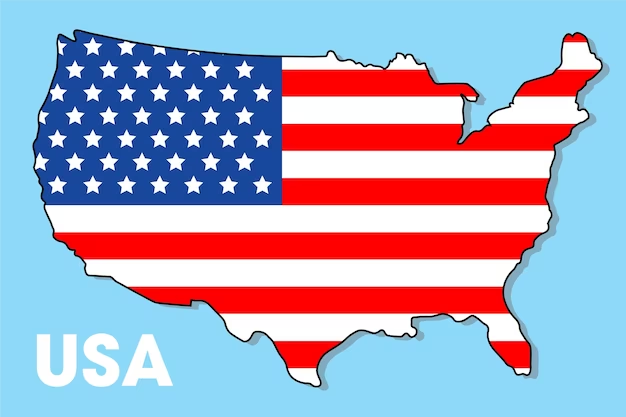Reportagens compiladas em livro trazem valiosas lições a políticos e eleitores democratas
Gabriel Trigueiro, Doutor em história comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
Folha de São Paulo, 23/02/2025
Paulo Francis publicou em 1972 o livro “Nixon x McGovern: As Duas Américas”, reunião de reportagens sobre a eleição nos EUA naquela mesmo ano. Lido agora, na volta de Trump à Presidência, a obra soa profética ao antecipar a virada populista na direita americana, a divisão profunda entre as elites culturais e econômicas e a “maioria silenciosa”, a idealização provinciana de uma “América real” e as estratégias de comunicação para descredibilizar as instituições e toda espécie de crítica.
Em 1972, durante as eleições presidenciais dos EUA, a melhor cobertura não foi feita por um americano, mas sim por um brasileiro: o jornalista e crítico cultural Paulo Francis. Em sua obra “Nixon x McGovern: As Duas Américas”, cada capítulo foi escrito durante um momento diferente da campanha, o que deu urgência e dinamismo à sua análise.
Mesmo quem não se interessa em acompanhar a vida política norte-americana pode se divertir com a leitura do livro, já que o texto de Francis é escrito à moda de um thriller político com leveza e ritmo ágil. Seu estilo tinha algo de Bernard Shaw: frases curtas e economia de conectivos, deixando o leitor quase sem fôlego no virar da página.
Publicado no início dos anos 1970, “Nixon x McGovern” nos dá perspectivas sobre algumas disputas políticas norte-americanas contemporâneas. Os dois principais partidos, Republicano e Democrata, são duas máquinas de arrecadação e propaganda. É nesses termos que devem ser compreendidos.
“Nixon x McGovern” é um livro que anteviu o trumpismo. Traçando a origem de algumas estratégias utilizadas por Donald Trump, especialmente no âmbito da comunicação, encontraremos suas raízes na virada populista que Richard Nixon imprimiu na década de 1970 ao movimento conservador.
Afinal, Nixon foi eleito pelos descontentes com a “contracultura” e “os hippies”, da mesma maneira como o atual presidente dos EUA foi eleito ao se contrapor à “cultura woke” e à “esquerda radical”: termos imprecisos e vagos, mas úteis na elaboração de seu discurso como um “americano comum”. E como construir esse representante da “América real”?
Política populista x política aspiracional
No sucesso da campanha de Nixon para a Presidência americana em 1972, foi proveitoso o conceito de “maioria silenciosa”: uma expressão antiga popularizada com um novo sentido pelo seu redator de discursos, Patrick Buchanan.
Foi vendida a ideia de que qualquer posição crítica aos EUA (normalmente associada à esquerda, intelectuais e a grupos como negros, gays etc.) não representava a “América real”, nem o “americano médio”. Embora pertencesse a um grupo majoritário, esse “americano médio” estaria em silêncio e sem a representatividade institucional adequada. Nixon tinha a pretensão de falar por essa América sem voz.
Esse é um momento de virada nos EUA: a ascensão do populismo, uma corrente antiga no país, mas que desta vez estava adaptada às novas formas de comunicação, e fazia oposição a uma tradição aspiracional e quase aristocrática da política norte-americana. Francis constrói uma radiografia precisa dessa guinada.
Ambas as escolas de pensamento, definindo-as aqui como “populista” e “aspiracional”, existem nos EUA e disputam o poder pelo menos desde a independência do país.
A diferença é que durante o processo eleitoral de 1972 esse negócio ganhou uma roupagem contemporânea, irrigada com grana do “big business”, verba publicitária nababesca e o uso inédito de meios de comunicação como TV e rádio.
A diferença das duas escolas fica mais evidente quando pensamos em John f. Kennedy e Richard Nixon, que disputaram a Casa Branca em 1960. Segundo Francis, o primeiro exibia “a sofisticação da Costa Leste (centro financeiro e intelectual dos EUA), o sotaque Boston e Harvard”. Foi, por definição, um modelo aspiracional da América educada, de sangue azul e dinheiro antigo. No entanto, isso vinha com um custo alto: “o povo admirava Kennedy, mas o sentia acima das respectivas cabeças”.
Já Nixon “é o que inúmeros americanos são e têm vergonha de ser: o careta preconceituoso, aquisitivo, isento de imaginação e ideias, tão inseguro de si próprio que recebe qualquer crítica aos EUA como uma ofensa pessoal”.
No entanto, a cada vez que gente como Nixon ou, hoje em dia, alguém como Trump, se torna o saco de pancadas da classe intelectual, essa ofensa jamais fica circunscrita ao objeto da crítica: o político conservador da vez. Ela é coletivizada.
O ofendido passa a ser agora o grosso da população, que, repare, não se identifica, e jamais se identificou, com códigos de comportamentos cosmopolitas. Até porque são códigos que podem soar arbitrários, elitistas, exagerados e autoritários.
O partido do rei
Hoje a política norte-americana assumiu a seguinte configuração: o Partido Democrata comporta alas socialistas, passa por liberais, liberais-conservadores, até chegar a conservadores moderados. A orientação partidária Democrata é, no fundo, conservadora —não em questões sociais e de costumes, claro, mas no sentido de que ela é refratária a mudanças e tem uma estrutura interna rígida, hierarquizada e comandada por oligarquias e caciques.
O Partido Republicano, em contraste, virou o partido do rei. É composto por gente que acredita, ou finge acreditar, que Donald Trump é uma espécie de imperador que teve o seu “direito de sucessão” usurpado por falsos postulantes, e que agora tem o dever de restaurar as glórias perdidas da antiga América, corrigindo os excessos liberais e constitucionais de uma República em decadência.
Muitos analistas, inclusive eu mesmo nesta Folha, subestimaram a capacidade de adesão radical à ideologia trumpista. O fato é que o Partido Republicano se tornou, pelo menos desde 2016, o que os britânicos do século 17 chamariam de “loyalist” —sua agenda está subordinada à vontade do rei. É como se Trump reiteradamente dissesse: “O partido sou eu”. E todo mundo comprasse a ideia.
Em 1972, Francis declarou: “A diferença entre as convenções democrata e republicana é a democracia para ditadura. Toda a gama de opiniões nos EUA apareceu com os democratas. Louvaminhas a Nixon consumiram tudo na republicana. Esta parecia um congresso do PC stalinista, onde o líder é o ‘deus ex-machina'”. Já estava lá o alerta para esse modo de operar totalitário que Nixon estabelecia dentro do partido.
“Certos animais comem o próprio vômito”
Durante as eleições de 2016, Trump era considerado uma figura política desagregadora, que iria fraturar não apenas o seu partido, mas o próprio movimento conservador. No entanto, tão logo foi eleito, e mesmo após sua derrota de 2020, houve uma reconfiguração de forças: um processo revolucionário envolvendo a máquina Republicana e os intelectuais que a orbitavam, com a pretensão de se tornarem conselheiros e amigos do rei.
Gente como Marco Rúbio, ex-senador pelo Estado da Flórida e atual Secretário de Estado desse segundo mandato presidencial, bem como o próprio vice J.D. Vance —ambos foram quadros políticos e intelectuais que no início se opuseram com veemência à ascensão de Trump, mas que logo em seguida já estavam na fila para lhe bajular.
Acompanhando a eleição de 1972, Francis destacava o adesismo de Nelson Rockefeller a Nixon. “Nelson Rockefeller, a quem Nixon venceu e humilhou em 1960, 1964 e 1968, fez o discurso de saudação ao candidato. Certos animais comem o próprio vômito. Certos humanos também, pelo visto.” Nada de novo sob o sol, repare.
O ataque à “mídia liberal”
Na campanha de Nixon, seu discurso parecia vindo da linguagem publicitária criada para a TV. Francis escreve: “Nixon é um admirador profundo das técnicas de vendas de detergentes, mata-ratos, pastas de dentes, sprays vaginais e outros produtos que infestam o vídeo americano. Constantemente, usa slogans reminiscentes dos ditos em discursos eleitorais”.
Não custa lembrar que Trump obteve fama nacional como figura midiática associada um reality show televisivo, “O aprendiz”. Durante os quase 15 anos em que esteve no ar, aprimorou o tino para uma linguagem que se comunica com públicos amplos e aprendeu o alfabeto das métricas de audiência.
Se Trump observou Nixon com o caderninho de anotações em mãos, certamente notou que seu vice, Spiro Agnew, atacava aquilo que, anos depois, recebeu o apelido entre os conservadores de “liberal media”. E estabeleceu desse modo o tom da maioria dos políticos de direita subsequentes, até que isso culminasse na sua versão mais predatória: o trumpismo. Não custa lembrar da declaração, ainda na primeira coletiva de seu primeiro governo, em 2017, de que a imprensa seria tratada como “o partido de oposição”.
Ataques à imprensa eram uma estratégia de apelo popular, porque eram baseados na ideia de que os comentaristas da TV e os editores desses jornais fossem um bando de intelectuais elitistas, apartados do resto da sociedade e do americano médio em gostos e costumes.
Mas Francis arrematou: “Para um político matuto como Agnew, a linguagem de Times e Post, ou da CBS, deve soar elitista. Certamente é superior ao nível de Jararaca e Ratinho a que ele está habituado”.
Francis percebia que descredibilizar os veículos de jornalismo era uma tática de longo prazo que visava criar desconfiança em qualquer informação apurada e publicada e, portanto, borrar as fronteiras do que são fatos ou apenas narrativas inventadas. Se remete a alguma técnica empregada em 2025, não é mera coincidência.
Alguns nomes da nova direita brasileira gostam de invocar Paulo Francis como um antecedente intelectual e uma genealogia respeitável de seus próprios argumentos e posição política. O Francis a que se referem é o defensor da alta cultura, o antipetista antes de isso ser modinha, o autor que sempre tinha à mão algum deboche sobre a esquerda.
No entanto, a realidade é mais complexa. Foi o sujeito, afinal, que argumentou que “(…) o liberalismo americano, se deseja fazer justiça ao nome, precisa evoluir para uma forma de socialismo, democrática e em outros respeitos compatíveis com as tradições do país”.
Voltando aos EUA, de lá para cá liberais e democratas não parecem ter aprendido muita coisa. Não lhes faria mal ler o livro desse brasileiro escrito no distante ano de 1972, mas com uma ou outra lição valiosa a ensiná-los sobre a política de seu próprio país.