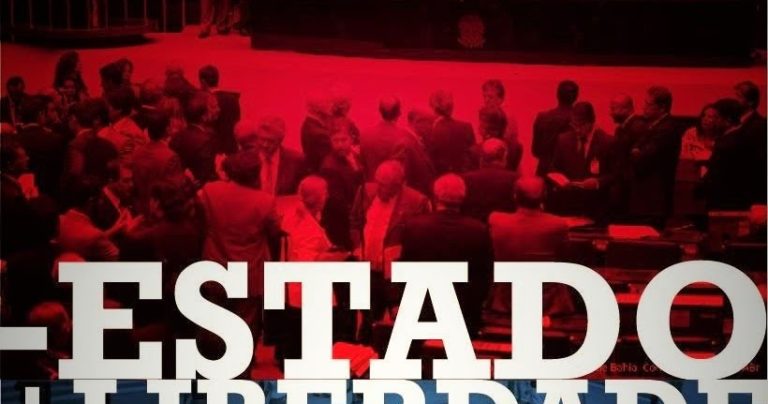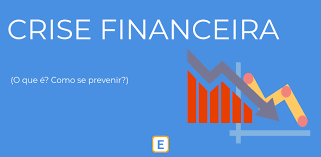Autor: Yoshiaki Nakano – Valor Econômico
Do pico de nível de atividade econômica, no período pré-crise, atingido em abril de 2008, até o segundo trimestre de 2009, a atual crise provocou uma contração maior no PIB, no comércio mundial e nas bolsas de valores do que a grande depressão dos anos 30. Entretanto, as respostas das políticas monetária e fiscal foram muito mais rápidas e intensas do que nos anos 30. Com isso, tivemos uma rápida e sensível melhora nas expectativas e surpreendente início de recuperação da atividade econômica desde o segundo trimestre na Alemanha, França e no Japão, estabilização nos Estados Unidos e recuperação do crescimento na Ásia.
A rigor a crise financeira iniciou-se nos Estados Unidos e contaminou diretamente os bancos dos principais países desenvolvidos. Nos países emergentes ela foi importada pelo pânico psicológico, revelou-se sem maiores consequências e a desaceleração do crescimento veio da queda nas exportações. A sustentação do crescimento e o seu ritmo dependerão do dinamismo de seu mercado doméstico. Tudo indica que os emergentes estão retomando o crescimento ainda que em ritmo menor.
Algumas grandes questões colocam em risco a recuperação recém-ensaiada nos países desenvolvidos. Ela se sustentará no momento em que os estímulos fiscais forem retirados? O que acontecerá com o seu sistema financeiro enquanto a nova regulação não vem, com uma política monetária fortemente expansionista, que inundou o sistema com abundante liquidez, uma taxa de juros próxima a zero e o retorno das práticas e da especulação financeira?
Com o socorro monumental dado pelo Federal Reserve (Fed, banco central) e pelo Tesouro, o mercado financeiro norte-americano já voltou a operar com as mesmas práticas que desencadearam a crise, as operações de trading no mercado de capitais, gerando grandes lucros e, com isso, os bônus bilionários e a sensação de que a crise financeira já acabou.
No entanto, não é a percepção dos analistas econômicos que sabem que as fragilidades do sistema financeiro não foram removidas e ninguém está prevendo a recuperação da economia em forma de V. Ao contrário, os analistas mais sérios agrupam-se em dois grupos. De um lado, aqueles que acham que a recuperação terá a forma U, mas com base achatada e longa e, de outro, aqueles que acreditam que a recuperação terá a forma de um W. Há fortes argumentos para ambos os grupos.
Aqueles que veem a recuperação em forma de U, com base achatada e longa, apontam que dois choques negativos e persistentes nos países desenvolvidos: choque de queda no consumo, em função da enorme destruição de riqueza financeira e necessária elevação da taxa de poupança das famílias americanas que estavam super-endividadas. O mesmo ocorre na Europa em menor grau; assim, a hipótese de recuperação via exportações está afastada. Com forte e persistente queda no consumo e nas exportações, a recuperação dos investimentos também é remota. Mais do que isto alguns analistas como Paul Krugman apontam riscos dos Estados Unidos entrarem numa espiral deflacionária, pois as respostas de política econômica tomadas até agora nos Estados Unidos e os desdobramentos da crise estão distantes daquelas tomadas pela Suécia e outros países nórdicos no início da década de 90, que permitiram rápida recuperação econômica. O desenrolar da crise mais se assemelha com o caso japonês em que o socorro do banco central e do tesouro se deu sem simultânea reestruturação do sistema financeiro, como no caso sueco, e com isso a recuperação foi lenta e prolongada e agravada pela temível espiral deflacionária.
Aqueles que acreditam que a recuperação será longa e em forma de W ou www, apontam duas ordens de riscos. Primeiro os riscos oriundos da estratégia de saída das expansionistas políticas monetária e fiscal e da retirada das garantias e da liquidez extraordinária injetada no sistema. Os desafios são gigantescos: em que momento reverter as políticas, lembrando que os estímulos fiscais têm data marcada para serem retirados e que a sua permanência requer aprovação do Congresso provavelmente resistente; como sequenciar ao longo do tempo as saídas; como coordenar e sincronizar globalmente as saídas.
Em segundo lugar temos os riscos oriundos da injeção extraordinária de liquidez e socorro aos bancos sem a simultânea reestruturação. Com recursos sem limite, as taxas de juros próximas a zero garantidas pelo Fed e na crença de que o governo não permitirá novas quebras os bancos, as mesmas práticas especulativas que geraram as bolhas e seu colapso retornaram. Pois é assim que geram enormes lucros recordes agora captando recursos custo praticamente zero e especulando com ativos com preços deprimidos.
Não são as operações tradicionais de empréstimos bancários ao setor real da economia que estão de volta. Basta verificar que as reservas bancárias ociosas passam de mais de US$ 1,3 trilhão. São as operações alavancadas de trading no mercado de capitais que voltaram e que, ao canalizarem recursos da liquidez extraordinária injetada pelos bancos centrais para as bolsas de valores, principalmente dos emergentes, petróleo, as commodities e para moedas-commodities, como o real, estão provocando a elevação de seus preços que já atingiram níveis em plena recessão global que não se justificam. Assim já podemos falar de mini-bolhas. De fato, nestas instituições quando o preço de seus ativos aumentam no seu balanço recompõe-se o seu patrimônio líquido e a alavancagem se reduz com isto são estimulados pela expectativa de polpudos lucros e bônus milionários abrem o apetite ao risco alavancando-se com novas operações e assim sucessivamente até que geram bolhas que podem eventualmente estourar.
Assim, aqueles que acreditam que a recuperação se dará sob a forma de W apontam para as grandes dificuldades de implementar uma saída das políticas e da retirada da liquidez extraordinária sem turbulências num quadro no qual a própria ação de socorro dos bancos centrais está gerando mini-bolhas. Certamente haverá sustos já que o socorro do governo aos bancos foi feito sem a sua reestruturação que deverá demorar e quem sabe será implementado só em 2011.
Yoshiaki Nakano, ex-secretário da Fazenda do governo Mário Covas (SP), professor e diretor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas – FGV/EESP, escreve mensalmente às terças-feiras.