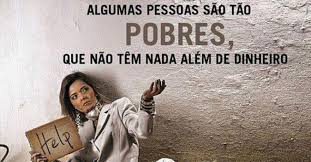Autor: Paul Krugman
A crise da Grécia veio bem a calhar para os antikeynesianos; mas o FMI acabaria por reconhecer que os efeitos das medidas de austeridade impostas ao país foram além da conta.
Em tempos normais, um erro aritmético em um estudo econômico passaria completamente despercebido aos olhos do mundo. Mas, em abril de 2013, a descoberta de um desses erros – na verdade, um erro de codificação em uma planilha, juntamente com vários outros erros na análise – não só se tornou o assunto mais comentado entre os economistas, como também chegou às manchetes dos jornais. Pode-se concluir, mesmo, que esse erro mudou o rumo dos modos de fazer política econômica.
Por quê? Porque o “paper” em questão, “Crescimento em Tempos de Crise”, dos economistas de Harvard Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, havia se transformado em um marco no debate sobre política econômica. Desde que começou a circular, os “austerianos” – defensores da austeridade fiscal, de cortes imediatos e severos nos gastos do governo – vinham citando as supostas constatações de Reinhart-Rogoff para defender sua posição e atacar seus críticos. Repetidas vezes, alegações de que, como disse John Maynard Keynes, “o boom, e não a retração, é o momento certo para a austeridade” – ou seja, os cortes deveriam esperar até que as economias estejam mais fortes – foram confrontadas com declarações de que Reinhart e Rogoff haviam demonstrado o oposto, ou seja, esperar dias melhores seria desastroso, e as economias caem no abismo quando a dívida do governo supera 90% do PIB.
O “paper”de Reinhart e Rogoff possivelmente teve influência mais imediata no debate público do que qualquer outro estudo na história da economia. A afirmação dos 90% foi citada como o argumento decisivo a favor da austeridade por figuras que iam de Paul Ryan, o ex-candidato à Vice-Presidência dos Estados Unidos, que hoje preside a Comissão do Orçamento da Câmara dos Representantes, a Olli Rehn, a principal autoridade econômica da Comissão Europeia, ao conselho editorial do jornal “The Washington Post”. Então, a revelação de que o suposto limite de 90% era um produto de erros de programação, omissão de dados e técnicas estatísticas peculiares subitamente fez um número considerável de notáveis parecerem tolos.
No entanto, o verdadeiro mistério estava, antes de mais nada, na razão de Reinhart e Rogoff terem sido levados tão a sério, a ponto de se tornarem canônicos. Desde o começo, críticos se mostraram muito preocupados com a metodologia e as conclusões do “paper”, preocupação que deveria ser suficiente para fazer qualquer um parar para pensar. Além disso, o “paper” de Reinhart e Rogoff foi, na verdade, o segundo tomado como evidência decisiva em favor da austeridade econômica, para cair por terra quando submetido a escrutínio cuidadoso. Algo bastante parecido, embora de maneira menos espetacular, aconteceu depois que os “austerianos” ficaram encantados com um “paper” de Alberto Alesina e Silvia Ardagna, que se propunha mostrar que o corte de gastos governamentais teria pouco impacto adverso sobre o crescimento econômico, podendo até mesmo ser expansionista. Essa experiência certamente deveria ter inspirado uma certa cautela.
Então, por que não houve mais cautela? A resposta, como está documentado em livros resenhados aqui (1) e é involuntariamente ilustrado por outros, está na política e na psicologia: o argumento da austeridade era, e é, algo em que muita gente poderosa quer acreditar, o que as leva a se apegarem a qualquer coisa que pareça uma justificativa. Falarei sobre esse desejo de crer mais adiante neste artigo.
Antes, porém, será útil percorrer a história recente da austeridade como doutrina e como experiência de política.
“O argumento da austeridade seduz muita gente poderosa, que se apega a qualquer coisa que pareça uma justificativa”.
1- No princípio era a bolha. Muitos, muitos livros foram escritos sobre os excessos dos anos de boom – na verdade, livros demais. Pois, como veremos, a compulsão por explicar os detalhes fantásticos do boom, em vez de se buscar compreender a dinâmica da retração, é um problema recorrente para a economia e a política econômica. Por ora, basta dizer que, no começo de 2008, os Estados Unidos e a Europa caminhavam para uma queda. Haviam se tornado excessivamente dependentes de mercados imobiliários aquecidos demais, suas famílias estavam profundamente endividadas, seus setores financeiros estavam subcapitalizados e superdimensionados.
Tudo que era preciso para fazer esse castelo de cartas desabar resumia-se a algum tipo de choque adverso. A implosão dos títulos atrelados a hipotecas subprime nos Estados Unidos fez justamente isso. No outono de 2008, as bolhas imobiliárias dos dois lados do Atlântico haviam estourado, e toda a economia do Atlântico Norte foi pega em uma “desalavancagem”, processo em que muitos devedores tentam pagar suas dívidas ao mesmo tempo – ou são forçados a isso.
Por que isso é um problema? Por causa da interdependência: seu gasto é minha receita, e meu gasto é sua receita. Se ambos tentarmos reduzir nossas dívidas cortando gastos, nossas receitas caem – e receitas em queda podem piorar ainda mais nosso endividamento, ao mesmo tempo que também produzem desemprego em massa.
Foi com um estremecimento que estudiosos da história da economia observaram o processo se desenrolar, em 2008 e 2009, porque estava óbvio que se tratava do mesmo processo que provocou a Grande Depressão. De fato, no começo de 2009, os historiadores econômicos Barry Eichengreen e Kevin O’Rourke produziram gráficos chocantes, que mostravam o primeiro ano da queda de 2008-2009 no comércio e na produção industrial como perfeitamente comparável ao primeiro ano da grande depressão mundial de 1929 a 1933.
Então, uma segunda Grande Depressão estava para começar? A boa notícia foi que tínhamos, ou achávamos ter, várias grandes vantagens em relação aos nossos avós, o que ajudaria a limitar os danos. Você pode dizer que algumas dessas vantagens eram estruturais, integradas à maneira como as economias modernas operam, e não exigiam nenhuma medida especial da parte dos formuladores de políticas. Outras eram intelectuais: certamente, havíamos aprendido algo desde a década de 1930 e não repetiríamos os erros de política de nossos avós.
Kenneth Rogoff e Carmen Reinhart tentaram defender seu trabalho, “mas suas respostas foram inconsistentes, na melhor das hipóteses, e evasivas, na pior”.
No lado estrutural, provavelmente a maior vantagem sobre os anos de 1930 era a maneira como os impostos e os programas de seguridade social – muito maiores do que em 1929 – agiam como “estabilizadores automáticos”. Os salários poderiam cair, mas a renda geral não cairia na mesma proporção, tanto por que a arrecadação tributária se reduziria, como por que os cheques do governo continuariam seguindo para a Previdência Social, o Medicare, o seguro-desemprego e tudo mais. Na verdade, a existência do moderno Estado do bem-estar social impôe um piso aos gastos totais e, desse modo, impediu que a espiral de queda da economia fosse longe demais.
No lado intelectual, os modernos planejadores econômicos conheciam a história da Grande Depressão, e a tinham como um alerta; alguns, incluindo Ben Bernanke, haviam sido grandes estudiosos da Grande Depressão. Aprenderam com Milton Friedman a tolice de permitir que corridas aos bancos provocassem o colapso do sistema financeiro, e a conveniência de inundar a economia de dinheiro em períodos de pânico. Aprenderam com John Maynard Keynes que, em condições de depressão, os gastos do governo podem ser uma forma eficaz de criar empregos.
Aprenderam com a desastrada virada de Franklin Delano Roosevelt em direção à austeridade, em 1937, que abandonar cedo demais o estímulo monetário e fiscal pode ser um erro muito grande.
Como resultado, onde o início da Grande Depressão foi acompanhado de políticas que intensificaram a retração – alta dos juros, como tentativa de manter as reservas em ouro; corte nos gastos, como tentativa de equilibrar orçamentos -, 2008 e 2009 foram caracterizados por políticas monetária e fiscal expansionistas, especialmente nos Estados Unidos. O Federal Reserve (Fed) não só cortou as taxas de juros, como foi aos mercados para comprar de tudo, de “commercial papers” a dívidas do governo de longo prazo. O governo Obama promoveria um programa de corte de impostos de US$ 800 bilhões e aumento de gastos. Na Europa, as medidas foram menos dramáticas – mas os “welfare states” mais avantajados reduziram consideravelmente a necessidade de estímulos deliberados.
Alguns economistas (e me incluo entre eles) afirmaram desde o começo que essas medidas monetárias e fiscais, embora oportunas, eram insuficientes, dada a gravidade do choque econômico. De fato, no fim de 2009, estava claro que, embora a situação houvesse se estabilizado, a crise econômica era mais grave do que os formuladores de políticas admitiam, e provavelmente se mostraria mais persistente do que haviam imaginado. Portanto, era de se esperar uma segunda rodada de estímulo para enfrentar o problema.
“A crença de que está havendo gastos governamentais desenfreados é falsa – pelo contrário, estão bem abaixo da tendência normal”.
Mas o que, na verdade, aconteceu foi uma reversão súbita.
2-“The Alchemists”, de Neil Irwin, trata de um momento e um lugar em que as economias mais avançadas passaram do estímulo para a austeridade. O momento é o começo de fevereiro de 2010; o lugar, de uma forma meio bizarra, é o remoto povoado de Iqaluit, no Ártico Canadense, onde os ministros do G-7 realizaram uma de suas reuniões regulares. Às vezes (frequentemente) esses encontros são pouco mais que ocasiões cerimoniais, e naquele também houve muita cerimônia, incluindo carne crua de foca servida no último jantar (todos os visitantes estrangeiros declinaram). Mas dessa vez algo importante aconteceu. “No isolamento da natureza selvagem canadense”, escreve Irwin, “os líderes da economia mundial concordaram em que o grande desafio que enfrentavam havia mudado. A economia parecia estar reagindo; era o momento de voltarem suas atenções para além do estímulo ao crescimento. Nada mais de estímulos.”
A que ponto a mudança de política foi decisiva? O gráfico 1, tirado do mais recente [relatório] “Perspectivas Econômicas Mundiais”, do Fundo Monetário Internacional (FMI), mostra como os gastos reais dos governos se comportaram nesta crise em comparação a recessões anteriores; no gráfico, o ano zero é o ano antes da recessão global (2008, na atual retração), e os gastos estão comparados com seu nível naquele ano-base. O que se vê é que a crença disseminada de que está havendo gastos governamentais desenfreados é falsa – pelo contrário, após uma alta breve, em 2009, começaram a cair na Europa e nos Estados Unidos e agora estão bem abaixo da tendência normal. A virada para a austeridade foi bem real, e bem grande.
Diante disso, aquela foi uma mudança de política bem estranha. Os manuais de economia afirmam que a redução de gastos públicos faz diminuir a demanda geral, o que leva a uma produção menor e a uma taxa de emprego menor. Isso pode ser desejável se a economia está muito aquecida e a inflação está em alta; alternativamente, os efeitos adversos da redução dos gastos públicos podem ser compensados. Os bancos centrais (o Fed, o Banco Central Europeu ou seus congêneres de outros países) podem cortar as taxas de juros, para, assim, induzir um aumento dos gastos privados. Entretanto, nenhuma dessas condições ocorreu no começo de 2010, e não estão ocorrendo agora. As economias mais avançadas estavam e estão muito deprimidas, sem nenhum sinal de pressão inflacionária. Enquanto isso, as taxas de juros de curto prazo, que estão mais ou menos sob controle do banco central, estão próximas de zero, e deixam pouco espaço para a política monetária compensar a redução dos gastos do governo. Portanto, o manual diria que toda essa austeridade que estamos vendo é bastante prematura, e seria preciso esperar até a economia se mostrar mais forte.
A questão, então, está em saber por que os líderes econômicos jogaram os manuais pela janela tão prontamente.
Uma resposta é que, em primeiro lugar, vários deles nunca acreditaram em manuais. O “establishment” político e intelectual da Alemanha nunca fez muito uso da economia keynesiana, assim como a maior parte do Partido Republicano nos Estados Unidos. No calor de uma crise econômica aguda – como aconteceu no outono de 2008 e no inverno de 2009 – essas vozes discordantes puderam, até certo ponto, ser caladas; mas, assim que as coisas se acalmaram, voltaram com tudo.
Uma resposta mais ampla é a de que falaremos adiante: os motivos políticos e psicológicos que levam muitas figuras influentes a odiar as noções de gasto público e dinheiro fácil. Mais uma vez, assim que a crise ficou menos séria, passou a haver mais espaço para ceder a esses sentimentos.
Além desses fatores, porém, no começo de 2010 havia dois outros aspectos contingenciais da situação: a nova crise na Grécia e o aparecimento de uma pesquisa econômica aparentemente rigorosa e de alta qualidade que dava suporte à posição “austeriana”.
A crise grega foi um choque para quase todo mundo, especialmente para o governo que assumiu em outubro de 2009. As novas autoridades sabiam que tinham pela frente um déficit fiscal – mas somente após tomarem posse descobriram que o governo anterior estava maquiando os números, e que o déficit e o estoque de dívida acumulado eram muito maiores que o imaginado. Com as notícias chegando aos investidores, a Grécia, primeiro, e depois a Europa, viram-se mergulhadas em um novo tipo de crise – aquela em que não eram os bancos que quebravam, mas sim os governos, incapazes de tomar recursos emprestados nos mercados internacionais.
A crise grega foi uma dádiva para os antikeynesianos. Eles vinham alertando para os perigos do déficit público; o desastre grego parecia mostrar a que ponto a devassidão fiscal pode ser perigosa. Até hoje, qualquer pessoa que argumentar contra a austeridade fiscal, quanto mais sugerir que precisamos de outra rodada de estímulo, pode esperar ser atacada por alguém que transformará os Estados Unidos (ou o Reino Unido, conforme o caso) na nova Grécia.
Se a Grécia proporcionou a lição óbvia ao mundo real, Reinhart e Rogoff parecem ter fornecido a matemática. Seu “paper” parecia mostrar que a dívida não só prejudica o crescimento, como também há um “limite”, um tipo de gatilho, quando o endividamento supera 90% do PIB. Seus números sugerem que, se um país for além desse ponto, o crescimento econômico para. A Grécia, é claro, já estava com um endividamento maior que o número mágico. Mais precisamente, grandes economias, incluindo os Estados Unidos, estavam com grandes déficits fiscais e se aproximando do limite. Colocando a Grécia e Reinhart-Rogoff juntos, parecia haver uma necessidade clara de uma virada brusca e imediata em direção à austeridade.
Mas uma virada dessas em uma economia ainda deprimida pela desalavancagem do setor privado não teria um impacto negativo imediato? Não há com que se preocupar, dizia outro estudo acadêmico bastante influente, “Grandes Mudanças na Política Fiscal: Impostos versus Gastos”, de Alberto Alesina e Silvia Ardagna.
Uma das coisas particularmente boas em “Austerity: The History of a Dangerous Idea”, de Mark Blyth, é a maneira como acompanha a ascensão e queda da ideia da “austeridade expansionista”, a proposição de que o corte nos gastos leva a um PIB maior. Blyth demonstra que essa é uma ideia associada a um grupo de economistas italianos (que ele chama de “the Bocconi boys”, em alusão à Universidade Luigi Bocconi, de Milão), que a defendeu em uma série de ensaios que, ao longo do tempo, foram ficando mais estridentes e menos qualificados, culminando na análise de Alesina e Ardagna em 2009.
Em suma, Alesina e Ardagna fizeram um ataque frontal à proposição keynesiana de que cortar gastos públicos em uma economia debilitada produz mais fraqueza. Assim como Reinhart e Rogoff, dispuseram evidências históricas de modo a dar sustentação a seus pontos de vista. Segundo Alesina e Ardagna, grandes cortes de gastos em países avançados sempre foram, em média, seguidos de expansão, e não de contração. O motivo, diziam, é que a austeridade fiscal resoluta criava confiança no setor privado, e essa maior confiança mais do que compensava qualquer empecilho representado por gastos menores do governo.
Conforme Mark Blyth documenta, essa ideia se espalhou como fogo. Alesina e Ardagna fizeram uma apresentação especial, em abril de 2010, ao Conselho de Assuntos Econômicos e Financeiros do Conselho Europeu de Ministros; a análise rapidamente chegou aos pronunciamentos oficiais da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE). Assim, em junho de 2010, Jean-Claude Trichet, então presidente do BCE, rebateu as preocupações de que a austeridade poderia afetar o crescimento: “Em relação à economia, a ideia de que medidas de austeridade podem desencadear a estagnação é incorreta… Na verdade, nessas circunstâncias, tudo que ajuda a aumentar a confiança das famílias, empresas e investidores na sustentabilidade das finanças públicas é bom para a consolidação do crescimento e a criação de empregos. Acredito piamente que, nas atuais circunstâncias, políticas que inspirem a confiança estimularão o crescimento econômico, e não prejudicarão, porque o principal fator hoje é a confiança”. Algo totalmente Alesina-Ardagna.
No verão de 2010, uma ortodoxia da austeridade havia tomado forma, tornando-se dominante nos círculos políticos europeus e influente neste lado do Atlântico. Como as coisas correram nos quase três anos decorridos desde então?
3-É difícil ter evidências claras dos efeitos das políticas econômicas. Geralmente, os governos mudam as políticas com relutância e é difícil distinguir os efeitos das medidas tímidas que adotam de todas as outras coisas que acontecem no mundo. O estímulo Obama, por exemplo, foi temporário e bem pequeno em comparação ao tamanho da economia dos Estados Unidos, jamais ultrapassando 2% do PIB, e entrou em vigor em uma economia assolada pela maior crise financeira em três gerações. Bem ou mal, quanto do que ocorreu em 2009-2011 pode ser atribuído ao estímulo? Ninguém sabe realmente.
No entanto, a virada para a austeridade após 2010 foi tão drástica, especialmente nos países endividados da Europa, que os alertas usuais perderam a maior parte de sua força. A Grécia impôs cortes nos gastos e aumento de impostos correspondentes a 15% do PIB; Irlanda e Portugal ficaram com cerca de 6%; e, ao contrário dos esforços tíbios de estímulo, esses cortes foram sustentados e na verdade se intensificaram ano após ano. Cabe perguntar de que modo a austeridade funcionou de fato.
Economistas italianos, os “Bocconi boys”, fizeram sua parte, difundindo a ideia de que existe uma “austeridade expansionista”.
A resposta é que os resultados foram desastrosos, como qualquer pessoa teria previsto consultando manuais de macroeconomia. O gráfico 2, por exemplo, mostra o que aconteceu com uma seleção de países europeus. O eixo horizontal mostra as medidas de austeridade – cortes nos gastos públicos e aumento de impostos – como proporção do PIB, conforme estimado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). O eixo vertical mostra a mudança porcentual no PIB real. Como se pode ver, os países que foram forçados a adotar medidas de austeridade severas experimentaram recessões bastante severas, que foram mais ou menos proporcionais ao grau de austeridade.
Foram feitas algumas tentativas para explicar esses resultados, especialmente na Comissão Europeia. Mas o FMI analisou a fundo os dados e não só concluiu que a austeridade teve grandes efeitos econômicos adversos, como também emitiu o que pode ser classificado como um “mea culpa”, por ter subestimado esses efeitos adversos.(2) Há uma alternativa à austeridade? E o que dizer dos riscos do endividamento excessivo?
No começo de 2010, com o desastre grego ainda vivo na memória de todos, os riscos do endividamento excessivo pareciam óbvios; esses riscos pareciam ainda maiores em 2011, depois que Irlanda, Espanha, Portugal e Itália entraram para o clube dos países que precisavam pagar grandes ágios de juros. Mas uma coisa engraçada aconteceu a outros países com endividamento elevado, incluindo Japão, Estados Unidos e Reino Unido: apesar dos grandes déficits e do aumento acelerado das dívidas, os custos dos empréstimos para esses países continuavam muito baixos. A diferença crucial, conforme apontou o economista belga Paul DeGrauwe, parecia ser que esses países tinham suas próprias moedas, e tomavam emprestado nessas moedas. Esses países não ficam sem dinheiro porque podem imprimi-lo se necessário e, fora o risco de um aperto monetário, as nações avançadas evidentemente podem arcar com patamares elevados de endividamento sem mergulhar numa crise.
Decorridos três anos desde a virada para a austeridade, tanto as esperanças como os medos dos “austerianos” mostram-se fora de lugar. A austeridade não levou a um aumento da confiança; os déficits não levaram à crise. Mas o movimento em favor da austeridade não estava embasado em pesquisas econômicas sérias? Na verdade, viu-se que não estavam – as pesquisas que os “austerianos” mencionavam eram bastante falhas.
A primeira coisa a soçobrar foi a noção de austeridade expansionista. Antes mesmo do anúncio dos resultados da experiência da Europa com a austeridade, o “paper” Alesina-Ardagna ruía sob análises rigorosas. Pesquisadores do Roosevelt Institute observaram que nenhum dos exemplos alegados de austeridade que levariam à expansão da economia ocorreram em meio a uma retração econômica; pesquisadores do FMI constataram que a medida Alesina-Ardagna de política fiscal tinha pouca relação com as mudanças de políticas reais. “Na metade de 2011”, escreve Blyth, “o apoio empírico e teórico à austeridade expansionista estava desaparecendo.” Lentamente, com pouco estardalhaço, toda a noção de que a austeridade pode estimular as economias deixou a cena pública.
Ben Bernanke e outros economistas aprenderam com Friedman, Keynes e Roosevelt, mas as medidas que tomaram contra a crise iriam mostrar-se insuficientes
Reinhart-Rogoff duraram mais tempo, muito embora questionamentos importantes tenham sido feitos sobre o trabalho dos dois bem no início. Já em julho de 2010, Josh Bivens e John Irons, do Economic Policy Institute, haviam identificado um erro claro – uma interpretação equivocada dos dados da economia americana imediatamente após a Segunda Guerra Mundial – e um grave problema conceitual. Reinhart e Rogoff não ofereceram evidências de que a correlação ia do endividamento elevado para o crescimento baixo, em vez de fazer o caminho contrário, e outras evidências sugeriram que o segundo caso era mais provável. Mas essas críticas tiveram pouco impacto; pode-se dizer que, para os “austerianos”, Reinhart-Rogoff foram uma história boa demais para ser conferida.
Então, a revelação, em abril de 2013, dos erros de Reinhart e Rogoff veio como um choque. Apesar da influência de seu “paper”, Reinhart e Rogoff não fizeram uma distribuição ampla de seus dados – e pesquisadores que trabalharam com dados aparentemente comparáveis não conseguiam reproduzir seus resultados. Até que puseram suas planilhas à disposição de Thomas Herndon, estudante de pós-graduação da Universidade de Massachusetts em Amherst – e ele as achou muito estranhas. Havia, na verdade, um erro de codificação, que pouco contribuíra para as conclusões de Reinhart e Rogoff. Mais importante é que os dados por eles empregados não serviam para incluir as experiências de vários países aliados – Canadá, Nova Zelândia e Austrália – que emergiram da Segunda Guerra Mundial com endividamento alto, e ainda assim apresentaram crescimento sólido. E usaram um sistema de ponderação estranho, em que cada “episódio” de endividamento elevado era considerado da mesma forma, tivesse ocorrido durante o ano de crescimento ruim ou durante 17 anos de crescimento bom.
Além desses erros e esquisitices, ainda havia uma correlação negativa entre dívida e crescimento – mas isso poderia ser, e provavelmente era, principalmente uma questão de baixo crescimento levando a endividamento elevado, e não o contrário. E o “limite” de 90% desapareceu, solapando as histórias assustadoras que estavam sendo usadas para vender austeridade.
Não surpreende que Reinhart e Rogoff tenham tentado defender seu trabalho; mas suas respostas foram inconsistentes, na melhor das hipóteses, e evasivas, na pior.
O mais notável é que continuam escrevendo de uma maneira que sugere, sem declarar diretamente, que o endividamento de 90% do PIB é um tipo de limite a partir do qual coisas ruins acontecem. Na verdade, mesmo se alguém ignorar a questão da causalidade – se o crescimento baixo causa o endividamento elevado, ou o contrário -, os efeitos aparentes sobre o crescimento da dívida a partir de, digamos, 85% a 95% do PIB, são bem pequenos e não justificam o pânico com o endividamento que tem sido uma influência tão poderosa sobre políticas econômicas.
A esta altura, portanto, a economia da austeridade está muito mal. Suas previsões mostraram-se totalmente erradas; os documentos acadêmicos produzidos não só perderam o status canônico, como se tornaram alvo de zombaria. Mas, como afirmei, nada disso (exceto aquele erro no Excel) deveria ser surpresa: a macroeconomia básica deveria ter dito a todos que esperassem o que de fato aconteceu, e os estudos que agora caíram em descrédito obviamente apresentavam falhas desde o começo.
“Economistas que disseram à elite o que ela queria ouvir foram celebrados, apesar das muitas evidências de que estavam errados”.
Isso levanta a questão óbvia: por que a economia da austeridade exerceu poder tão grande sobre a opinião da elite logo de início?
4-Todos gostam de uma representação moral. “Pois o salário do pecado é a morte” é uma mensagem muito mais satisfatória do que “merda acontece”. Todos queremos que os acontecimentos tenham um significado.
Quando aplicada à macroeconomia, essa compulsão pela busca de um significado moral cria em todos nós uma predisposição a acreditar em histórias que atribuem as consequências de uma recessão aos excessos do boom que a precedeu – e, talvez, também torne natural ver as consequências como necessárias, parte de um processo inevitável de limpeza. Quando Andrew Mellon pediu a Herbert Hoover que deixasse a Depressão seguir seu curso, para “purgar a podridão” do sistema, ele estava oferecendo um conselho que, por mais ruim que fosse economicamente, tinha uma ressonância psicológica junto a muitas pessoas (e ainda tem).
Em contraste, a economia keynesiana se baseia fundamentalmente na premissa de que a macroeconomia não é uma representação moral – as depressões são essencialmente uma disfunção técnica. Com o agravamento da Grande Depressão, Keynes fez a famosa declaração de que “temos um problema de magneto” – ou seja, os problemas da economia são como os de um automóvel com um defeito pequeno, mas crítico, em seu sistema elétrico, e o trabalho do economista é descobrir como consertar esse problema técnico. A obra-prima de Keynes, “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, é notável – e revolucionária – por não dizer quase nada do que acontece nos booms econômicos. Teóricos pré-keynesianos do ciclo de negócios adoravam explicar os excessos chocantes que ocorrem em épocas de vacas gordas, ao mesmo tempo em que tinham relativamente pouco a dizer sobre o que exatamente faz com que esses excessos abram espaço para os períodos de vacas magras, ou o que você deveria fazer quando eles fazem isso. Keynes inverteu essa prioridade; quase toda sua atenção estava voltada para a maneira como as economias ficam deprimidas e o que pode ser feito para deixá-las menos deprimidas.
Eu diria que Keynes estava certíssimo nessa abordagem, mas não há dúvida que ela é bastante insatisfatória para muitos, como uma questão emocional. Assim, não deveríamos nos surpreender com o fato de muitas interpretações populares de nossos problemas atuais retornarem, sabendo disso ou não seus autores, ao estilo instintivo e pré-keynesiano de discorrer sobre os excessos do boom, em vez das falhas da retração.
“The Great Deformation”, de David Stockman, deve ser visto sob esse prisma. O livro é uma arenga extremamente longa contra os excessos de vários tipos, com todos eles, na visão de Stockman, tendo culminado na atual crise. Aos olhos de Stockman, a história é uma série de “farras”: “uma farra de tomada insustentável de empréstimos”, uma “farra de repressão dos juros”, uma “farra de engenharia financeira destrutiva” e, repetidamente, “uma farra de impressão de dinheiro”. Isso porque, no mundo de Stockman, todos os males da economia derivam do pecado original do abandono do padrão-ouro. Toda a prosperidade que achamos que tivemos desde 1971, quando Nixon abandonou o último elo com o ouro, ou talvez até mesmo desde 1933, quando Franklin Delano Roosevelt nos tirou o ouro pela primeira vez, foi uma ilusão destinada a terminar em lágrimas. E, é claro, qualquer política que quiser aliviar a atual recessão só vai piorar as coisas.
Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu: “piamente” convencido de que austeridade leva à confiança, que leva ao crescimento econômico
Por si só, o livro de Stockman não é importante. Além de alguns ataques aos republicanos, consiste basicamente de declarações bombásticas de analistas que recomendam o ouro. Mas a atenção que o livro despertou, a maneira como impressionou muita gente, incluindo até mesmo alguns liberais, sugere quanto ainda é forte a compulsão de se ver a economia com um auto de moralidade, três gerações após Keynes ter tentado nos mostrar que não é nada disso.
E de maneira nenhuma autoridades poderosas estão imunes a essa compulsão. Em “The Alchemists”, Neil Irwin analisa os motivos de Jean-Claude Trichet, então presidente do Banco Central Europeu (BCE), ao defender políticas duras de austeridade: “Trichet abraçou um ponto de vista, especialmente comum na Alemanha, que estava embasado em um tipo de moralismo. A Grécia havia gastado demais e se endividado muito. Precisava cortar gastos e reduzir déficits. Se mostrasse coragem e determinação política, os mercados iriam recompensá-la com custos menores na tomada de empréstimos. Ele depositou muita fé no poder da confiança…”
Dado esse tipo de predisposição, seria de admirar que a economia keynesiana tenha sido jogada pela janela, enquanto Alesina-Ardagna e Reinhart-Rogoff foram instantenamente elevados à condição de canônicos?
Então, o impulso “austeriano” seria apenas uma questão de psicologia? Não. Há também uma boa pitada de interesse próprio envolvido. Como já notaram vários observadores, um afastamento do estímulo fiscal e monetário pode ser interpretado, se você quiser, como conceder aos credores prioridade sobre os trabalhadores. Inflação e juros baixos são ruins para os credores, mesmo que promovam a criação de empregos; reduzir déficits do governo numa situação de desemprego em massa pode agravar uma depressão, mas aumenta a certeza dos detentores de bônus de que seus títulos serão totalmente pagos. Não acredito que alguém como Trichet estivesse cínica e conscientemente servindo a interesses de classe à custa do bem-estar geral; mas certamente não há por que ignorar que seu senso de moralidade econômica tenha se encaixado tão perfeitamente nas prioridades dos credores.
Também vale notar que, embora pareçam em grande medida um fracasso lamentável, as políticas econômicas adotadas desde a crise financeira não têm sido tão ruins para os ricos. Os lucros tiveram uma forte reação mesmo com a persistência de uma taxa de desemprego sem precedentes no longo prazo; os índices de ações dos dois lados do Atlântico voltaram aos patamares anteriores à crise mesmo com o rendimento médio fraco. Pode ser um exagero dizer que aqueles que fazem parte do 1% mais rico na verdade se beneficiam de uma depressão contínua, mas certamente não estão sendo tão prejudicados, e isso provavelmente tem a ver com a disposição dos formuladores de políticas de permanecer no curso da austeridade.
5-Como isso pôde acontecer? Essa é a pergunta que muitos faziam quatro anos atrás; e ainda é a pergunta que muitos fazem hoje. Mas o “isso” mudou.
Já em julho de 2010, economistas haviam identificado um erro de interpretação e um grave problema conceitual no “paper” de Reinhart e Rogoff.
Há quatro anos, o mistério era como uma crise financeira tão terrível havia acontecido, com pouco aviso prévio. As lições duras que tivemos de aprender envolveram a fragilidade das finanças modernas, a estupidez de confiar a regulação dos bancos a eles mesmos, e os perigos de supor que arranjos financeiros pomposos eliminaram, ou mesmo reduziram, problemas de risco muito antigos.
Eu diria, no entanto – por mais egoísta que possa parecer (alertei sobre a bolha imobiliária, mas não tinha nenhuma noção do tamanho do colapso que se seguiria quando estourasse) -, que o fracasso na previsão da crise foi um pecado relativamente menor. As economias são complicadas, entidades em eterna mutação; ficou entendido que poucos economistas perceberam até onde os empréstimos de curto prazo e a securitização de ativos, como as hipotecas subprime, recriaram velhos riscos que caberia ao seguro de depósitos e à regulamentação bancária controlar, conforme previsto quando de sua criação.
Para mim, o que aconteceu depois – a maneira como os formuladores de políticas econômicas voltaram suas costas para praticamente tudo que os economistas aprenderam sobre como enfrentar depressões, a maneira como a opinião da elite se apoderou de tudo que pudesse ser usado para justificar a austeridade – foi um pecado muito maior. A crise financeira de 2008 foi uma surpresa, e aconteceu muito rápido; mas fomos aprisionados em um regime de baixo crescimento e desemprego desesperançadamente alto que já dura anos. Durante todo esse tempo, os formuladores de políticas ignoraram as lições da teoria e da história.
É uma história terrível, principalmente por causa do imenso sofrimento resultante desses erros de política. Também é muito preocupante para aqueles que gostam de acreditar que o conhecimento pode fazer uma diferença positiva no mundo. Até onde os formuladores de políticas e a opinião da elite em geral fizeram uso das análises econômicas, fizeram-no, como diz o ditado, da maneira que um bêbado usa um poste de rua: pelo apoio, e não pela iluminação.
“Papers” e economistas que disseram à elite o que ela queria ouvir foram celebrados, apesar das muitas evidências de que estavam errados; os críticos foram ignorados, não importando a frequência com que estivessem certos.
O fracasso de Reinhart-Rogoff fez surgir alguma esperança, entre os críticos, de que a lógica e as evidências finalmente estão começando a ter importância. Na verdade, é cedo demais para dizer se o domínio da economia da austeridade sobre políticas econômicas vai diminuir de maneira significativa, diante dessas revelações. Por enquanto, a mensagem mais geral dos últimos anos continua sendo a de que poucos benefícios podem resultar do saber. (Tradução de Mario Zamarian).
(1) “The Alchemists: Three Central Banks and a World of Fire”, de Neil Irwin (Penguin); “Austerity: The History of a Dangerous Idea”, de Mark Blyth (Oxford University Press); “The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America”, de David A. Stockman (Public Affairs).
(2) Ver “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers,” de Olivier Blanchard e Daniel Leigh, IMP Working Paper, Janeiro de 2013.
Paul Krugman, professor na Universidade de Princeton, é Prêmio Nobel de economia