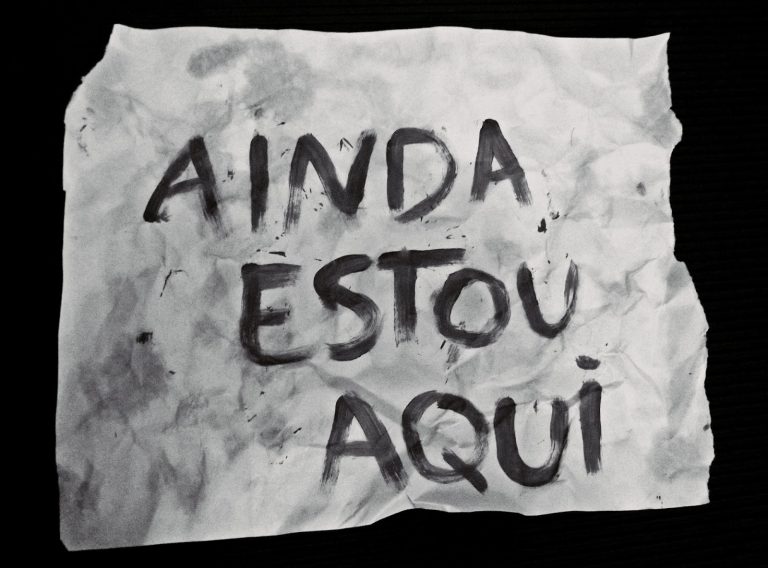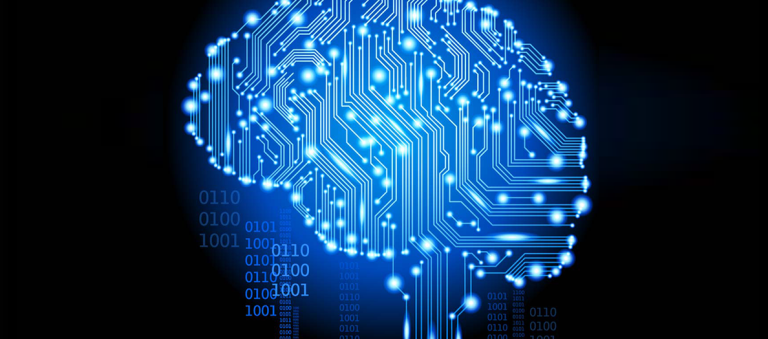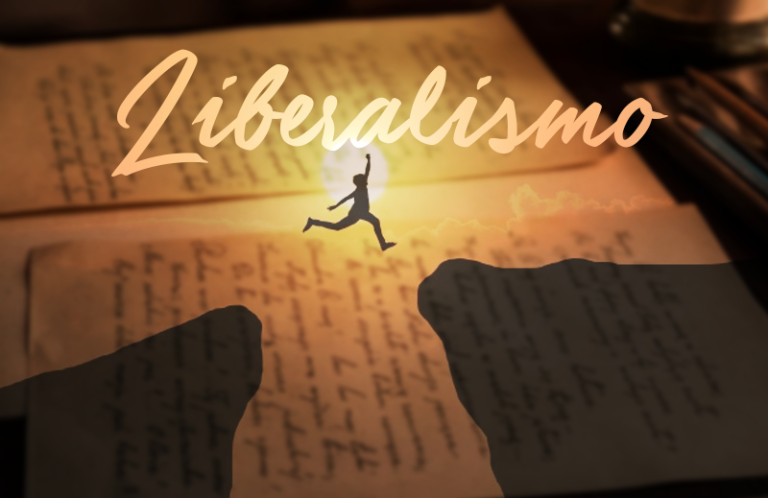Erik Chiconelli Gomes – A Terra é Redonda – 09/11/2024
Comentário sobre o filme dirigido por Walter Salles
Ainda estou aqui transcende a mera representação histórica para se estabelecer como um documento vivo da memória coletiva brasileira. O filme se apropria magistralmente das experiências cotidianas para construir uma narrativa que evidencia as múltiplas camadas de resistência presentes na sociedade brasileira durante o período ditatorial.
A construção narrativa proposta por Walter Salles dialoga intimamente com a ideia de que a história se manifesta através das experiências vividas por indivíduos comuns, especialmente aqueles que se encontram em situações de opressão e resistência. Neste sentido, a escolha de centralizar a narrativa em Eunice, interpretada magistralmente por Fernanda Torres, não é apenas uma decisão estética, mas também metodológica.
O filme evidencia como as estruturas de poder se materializam no cotidiano das pessoas, transformando espaços de convivência em locais de vigilância e opressão. A cena inicial, com o helicóptero sobrevoando a praia do Leblon, estabelece uma metáfora poderosa sobre a onipresença do aparelho repressivo estatal.
A transformação da protagonista de uma típica dona de casa da elite carioca em uma figura de resistência demonstra como as situações históricas podem mobilizar indivíduos para além de suas posições sociais predeterminadas. Esta mudança reflete um processo histórico mais amplo de conscientização e mobilização social.
A narrativa estabelece um diálogo profundo com as práticas de resistência cotidiana, demonstrando como as pequenas ações de enfrentamento ao regime se manifestavam nos gestos mais simples, desde a preservação da memória familiar através de filmagens em Super 8 até a manutenção da esperança em meio ao desaparecimento forçado.
O trabalho fotográfico de Adrian Tejido merece destaque especial por sua capacidade de traduzir visualmente a dialética entre opressão e resistência. O uso consciente da luz e da sombra cria uma atmosfera que reflete as contradições do período histórico retratado.
A presença da câmera na mão em determinados momentos estabelece uma conexão direta com o cinema verdade brasileiro, criando uma ponte entre a ficção e o documento histórico. Esta escolha estética reforça o compromisso do filme com a verdade histórica sem abrir mão de sua potência narrativa.
A construção narrativa do filme dialoga diretamente com as pesquisas historiográficas que evidenciam o caráter sistemático da violência estatal durante o regime militar. A cena da prisão de Rubens Paiva, retratada com uma brutalidade contida, mas impactante, ecoa os relatos documentados pela Comissão Nacional da Verdade sobre os métodos de repressão utilizados pelo Estado.
O ambiente do DOI-CODI, retratado com uma frieza calculada por Walter Salles, representa não apenas um espaço físico de tortura, mas simboliza todo um sistema institucionalizado de repressão. A interpretação de Fernanda Torres nesses momentos traduzida cinematograficamente o que os arquivos do DOPS, hoje disponíveis para pesquisa, revelam sobre o tratamento dado aos prisioneiros políticos.
A narrativa familiar de Paiva serve como microcosmo para compreender uma questão mais ampla: o desmantelamento sistemático das estruturas democráticas brasileiras. O filme evidencia como a classe média intelectualizada, inicialmente apoiadora do golpe, gradualmente também foi vitimada pelo aparelho repressivo que ajudou a legitimar.
O aspecto mais contundente da obra reside em sua capacidade de demonstração como o terrorismo de Estado operava em vários níveis. Para além da violência física, o filme expõe a violência psicológica perpetrada contra as famílias dos desaparecidos políticos. A busca incessante de Eunice por informações sobre o marido reflete uma realidade ainda presente na sociedade brasileira.
Walter Salles consegue capturar, através da transformação de Eunice, o processo de politização forçada que muitas famílias experimentaram durante o regime. O filme dialoga com estudos historiográficos que demonstram como as mulheres, especialmente as esposas e mães de desaparecidos políticos, tornaram-se importantes agentes de resistência.
A constante presença do medo, representada através de elementos sutis como olhares desconfiados e conversas sussurradas, encontra-se paralelamente nos depoimentos coletados por pesquisadores que estudaram a memória do período. O filme evidencia como o terror psicológico foi uma ferramenta deliberada de controle social.
O uso de imagens de arquivo familiar no Super 8 não serve apenas como recurso estético, mas representa uma importante fonte histórica sobre o período. Essas filmagens caseiras, comuns entre famílias de classe média da época, tornaram-se documentos importantes para compreender o cotidiano durante a ditadura.
O filme aborda também a questão da impunidade e do silenciamento institucional. A ausência de respostas sobre o destino de Rubens Paiva reflete um problema maior: a política de ocultamento e negação que persiste até hoje em setores da sociedade brasileira.
A transição entre períodos históricos é magistralmente representada pela presença de Fernanda Montenegro como a Eunice dos anos 2000. Esta escolha narrativa dialoga com estudos sobre memória e trauma coletivo, demonstrando como as feridas da ditadura permanecem abertas nas gerações subsequentes.
O filme evidencia como a estrutura familiar, tradicionalmente vista como espaço de proteção, tornou-se alvo direto da violência estatal. A desestabilização das relações familiares era parte integrante da estratégia de terror renovada pelo regime.
A representação da elite carioca e suas contradições encontra respaldo em estudos historiográficos sobre o papel das classes privilegiadas durante o regime militar. O filme expõe as fissuras dentro dessa classe social, evidenciando como o apoio inicial ao golpe se transformou em resistência quando a violência atingiu seus próprios círculos.
Walter Salles consegue, através de sua narrativa, contribuir para o que os historiadores têm chamado de “dever de memória”. O filme se estabelece não apenas como obra artística, mas como documento importante para a construção de uma memória coletiva sobre o período.
A ausência de respostas definitivas sobre o destino de Rubens Paiva, mantida no filme, dialoga com a luta permanente por verdade e justiça no Brasil. O filme evidencia como o desaparecimento foi uma política de Estado que continua reverberando no presente.
A obra se insere em um importante momento de revisão historiográfica sobre o período ditatorial, contribuindo para desconstruir narrativas que minimizam ou justificam a proteção dos direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro.
*Erik Chiconelli Gomes é pós-doutorando na Faculdade de Direito na USP.
Referência
Ainda estou aqui
Brasil, 2024, 135 minutos.
Direção: Walter Salles.
Roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega.
Direção de Fotografia: Adrian Teijido.
Montagem: Affonso Gonçalves.
Direção de Arte: Carlos Conti
Música: Warren Ellis
Elenco: Fernanda Torres; Fernanda Montenegro; Selton Mello; Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira e Cora Ramalho, Olivia Torres, Antonio Saboia, Marjorie Estiano, Maria Manoella e Gabriela Carneiro da Cunha.
Bibliografia
Alves, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984), Petrópolis: Vozes, 1984.
ARNS, Paulo Evaristo. Brasil: Mais Nunca . Petrópolis, Vozes, 1985.
Brasil. Comissão Nacional da Verdade. Relatório Final. Brasília: CNV, 2014.
FICO, Carlos. Como Eles Agiam: Os Subterrâneos da Ditadura Militar. Rio de Janeiro: Record, 2001.
Gaspari, Élio. A Ditadura Escanarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
Joffily, Mariana. No Centro da Engrenagem: Os Interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975). São Paulo: Edusp, 2013.
PAIVA, Marcelo Rubens. Ainda estou aqui. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.
Reis Filho, Daniel Arão. Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
Ridenti, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira. São Paulo: Editora UNESP, 2010.
Teles, Janaína de Almeida. Os Herdeiros da Memória: A Luta dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos por Verdade e Justiça no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2017.