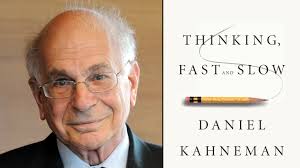Autor: Marcos Nobre – Entrevista Valor Econômico – 25/10/2013 – Por Diego Viana
Nobre: “Lula disse que não se faz política com o que se quer, mas com o que se tem. Para reformar o sistema político, vamos precisar fazer política com o que se quer”
As manifestações de junho foram objeto de muitas interpretações, mas a primeira a ser publicada como livro foi “Choque de Democracia: Razões da Revolta”, lançada em e-book pelo filósofo e cientista político Marcos Nobre, professor da Unicamp e pesquisador do Cebrap. Quando os manifestantes saíram às ruas, ele trabalhava em um livro mais amplo, destinado a interpretar os últimos 30 anos pela perspectiva de seu conceito de “pemedebismo”.
“Imobilismo em Movimento” (Companhia das Letras, 208 págs., R$ 36) trata do período da redemocratização, com a formação do chamado “Centrão”, o mito da governabilidade que se estabeleceu após a queda de Fernando Collor, os períodos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva e o início do governo Dilma Rousseff. No último capítulo, figura a tese, já presente no e-book, segundo a qual o que ocorreu em junho foi uma explosão do sentimento de que se tornou insuportável o descompasso entre o funcionamento do sistema político e as aspirações da sociedade, que, em oposição ao antigo nacional-desenvolvimentismo, Nobre denomina “social-desenvolvimentismo”.
“A ideia é expandir a perspectiva sobre o período pós-redemocratização, para sistematizar a experiência de quem não viveu a ditadura e a hiperinflação”, diz Nobre. A motivação para o recorte de leitura foi uma investigação sobre o “conservadorismo à brasileira”. Encasteladas no sistema político, não escapam inteiramente desse conservadorismo nem as novidades do cenário político, como a aliança entre Marina Silva e Eduardo Campos e a ascensão da nova geração de políticos.
Valor: O senhor usa o termo “pemedebismo” há anos. Como foi a cunhagem desse conceito?
Marcos Nobre: A ideia do pemedebismo me veio em 2009, quando ficou claro que existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento, partilhado pela direita e pela esquerda, de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político: existiriam limites para transformar o país, porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter paquidérmico da redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não é assim. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. Na Constituinte, em 1987 e 1988, nunca se viu tamanha participação da sociedade. A elite conservadora entrou em pânico, temendo um processo incontrolável de democratização. Toda a história republicana brasileira é a de colocar obstáculos para a democratização da sociedade.
“A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela”
Valor: O pemedebismo pode ser entendido como a versão pós-redemocratização de um modus operandi tradicional no Brasil?
Nobre: Há parentescos com outras formas do conservadorismo na história, mas agora é um conservadorismo na democracia. A origem está no fato de que a ditadura militar estabeleceu dois partidos, juntando correntes antagônicas dentro do MDB. O bipartidarismo forçado levou à constituição desse sistema de vetos, obrigando correntes diversas a conviver dentro da estrutura partidária. No século XX, foram 19 anos de democracia, mas com partidos postos na ilegalidade, tentativas de golpe. Ninguém vive 21 anos de ditadura impunemente. É só manter um regime democrático durante um tempo mínimo, que a democracia aprofunda. O que acontece com 30 anos de democracia num país? As pessoas saem na rua. Como um sistema político elitista lida com isso? Se a democracia permanecer, o pemedebismo tem data para acabar. Mas isso envolve uma série de reformas institucionais. Vai ser preciso garantir para uma oposição de verdade as condições de sobreviver e reproduzir seus quadros fora do governo. É encontrar base social e institucional para que uma oposição possa se organizar.
Valor: O senhor diz que o ímpeto reformador dos anos 1980 foi canalizado para o PT, que depois abriu mão dele para ocupar o pemedebismo pela esquerda…
Nobre: O PT votou contra a Constituição em 1988, mas assinou. Cinco anos depois, defendeu-a com unhas e dentes contra a revisão. Por que uma mudança tão rápida? Por que Lula, em 1989, chegou ao segundo turno com 16,08% dos votos. As forças sociais foram se organizando em torno do PT. Não havia, antes, uma frente unida de movimentos, tanto é que o “Centrão” conseguiu barrar muita coisa. O PT ocupou esse lugar porque o governo Fernando Henrique propôs uma acomodação ao sistema: deixou-o funcionando como estava, mas dirigindo-o para transformações econômicas. Estabeleceu dois polos, com o PSDB de um lado e o PT do outro. No meio, o pemedebismo. Quando Lula chegou ao poder, as forças sociais tinham duas missões. A primeira, reformar o sistema político. A segunda, reduzir as desigualdades. Em 2005, Lula avisa que não pode fazer as duas coisas. Para reduzir as desigualdades, tem de fazer um pacto com o sistema. E foi tão bem-sucedido que o outro polo desapareceu.
Valor: E o que aconteceu com aquele ímpeto?
Nobre: Ele ficou claro nas revoltas de junho: há um descompasso entre a cultura política democrática da sociedade e o sistema político. A sociedade é bem mais polarizada que o sistema e não vê sua polarização refletida nele. As pessoas ficam chocadas pela agressividade dos protestos de junho, pela quantidade de opiniões divergentes. Mas democracia é isso. O medo da polarização é um mito antigo e conservador. A polícia exerce violência brutal na periferia. No ano passado, tivemos 1.300 políticos assassinados, além de líderes do Movimento Sem-Terra. A polarização está no cotidiano das pessoas no sentido mais brutal da palavra. Polarização faz parte da democracia e as pessoas aprendem a conviver com isso. É na discussão que se criam regras da convivência. Não tem outro jeito, senão a velha repressão.
“A sociedade é bem mais polarizada que o sistema político e não vê sua polarização refletida nele”, diz Nobre (na foto, manifestação de professores no Rio de Janeiro)
Valor: Existe algo desse impulso nos 20 milhões de votos de Marina Silva em 2010? A Rede Sustentabilidade incorpora parte dele?
Nobre: A ausência de identificação de polarizações reais se reflete em válvulas de escape eleitorais. Marina chegou a um nível de votação em 2010 que é mais que isso. Quando Lula desligou a polarização, ficou só um condomínio pemedebista com o PT como síndico. E a oposição passa a ser gestada de dentro do governo: Marina veio do PT. Se todo mundo está dentro do governo, a oposição também está. Como Eduardo Campos. Essa votação virou um movimento que agitou a base da sociedade. E é um movimento dirigido para o sistema político. As organizações inovadoras das revoltas de junho, como o Movimento Passe Livre, Comitês Populares da Copa e outros, não são dirigidas ao sistema. Falam para a sociedade, a partir da sociedade. A Rede foi o primeiro movimento com base social efetiva dirigido ao sistema político.
Valor: A aliança Marina-Campos representa uma modificação importante desse sistema?
Nobre: A questão é se vai significar repolarização. O sistema pode ser polarizado e ainda assim permanecer pemedebista, como foi no governo Fernando Henrique. Mas repolarizar é essencial para que o sistema represente politicamente um mínimo das polarizações sociais. Já seria um passo importante. Vai acontecer? Vamos ver em 2014. Ao menos, a pasmaceira vai se mexer um pouco. O que precisa ser mudado no longo prazo é a cultura pemedebista, voltar a ter situação e governo. Não é possível um sistema político em que todo mundo é governo, seja qual for o governo. Não tem democracia saudável se for assim. É o conservadorismo brasileiro.
Valor: Quando Marina Silva, com mensagem ambientalista, teve 20 milhões de votos, o movimento seguinte do governo do PT foi se aliar ao ruralismo.
Nobre: Essa é a grande novidade do governo Dilma. O ruralismo sempre foi hostil ao PT. O governo Lula fez de tudo pra atrai-lo. Agora, a aliança se consolidou, justamente porque Marina está do outro lado. Isso é o pemedebismo: quando um partido abre mão de bandeiras históricas para fazer um acordão com o sistema. Certamente, Campos aceitou que Marina afastasse Ronaldo Caiado da aliança, mas não vai aceitar que afaste o ruralismo enquanto tal. Se setores ruralistas quiserem ficar na aliança, vão ficar. E Marina vai ter que engolir.
“As pessoas ficam chocadas pela agressividade dos protestos. Democracia é isso. O medo da polarização é um mito conservador”
Valor: Que desdobramentos vê para as manifestações de rua?
Nobre: Uma pauta que veio para ficar é o papel da polícia na democracia. Espero que seja possível reformar a polícia, última instituição ainda não atingida pela redemocratização. Outro elemento importante é a discussão sobre prioridades orçamentárias. O sistema estabelece as prioridades orçamentárias, mas não são as da sociedade. A resposta do sistema político às revoltas de junho foi uma tentativa de usar as ruas para passar suas pautas. O governo tenta passar pautas que são suas há tempos, como o Mais Médicos. O Congresso diz que as pautas são as suas. E segue o cabo-de-guerra entre os dois principais partidos da aliança, PT e PMDB.
Valor: O governo do Rio está aumentando as apostas, ao prender 70 pessoas de uma vez.
Nobre: É a aposta mais estúpida e antidemocrática que um governo pode fazer. É a resposta de um governo acuado. Ficou claro em junho que, quando a repressão se abatia, a manifestação aumentava. Parte da motivação era garantir o direito de manifestação. O sistema político, além de não nos representar, ainda bloqueia manifestações com o braço repressivo. O caso Amarildo é emblemático. O sistema aposta no apoio da população à repressão, mas houve a movimentação para mostrar que a violência policial acontece todo dia, mas não aparece. Esse jeito de funcionar da polícia é inaceitável. Não acho que essa atuação antidemocrática tenha respaldo generalizado da população.
Valor: O senhor anuncia a chegada de um pemedebismo repaginado e rejuvenescido. Como avalia a nova geração da política?
Nobre: Escrevi isso para falar da criação do PSD por Gilberto Kassab. Há não só uma troca geracional em curso, mas o pemedebismo incorpora elementos do social-desenvolvimentismo. Kassab, quando prefeito, nunca desfez o que Marta Suplicy fez. É o pemedebismo que reconhece que o social-desenvolvimentismo veio para ficar. A diferença é a maneira como lida com a população. Continua sendo a maneira tradicional de fazer política. A nova geração como um todo já incorporou o avanço democrático. São pessoas que se formaram na democracia. Mas são figuras pragmáticas: se acostumaram ao ambiente pemedebista. Lula disse que não se faz política com o que se quer, mas com o que se tem. O que temos é o pemedebismo. Para reformar o sistema político, vamos precisar fazer política com o que se quer.
Valor: Tanto o centralismo quanto o federalismo são apontados, em momentos diferentes, como fontes do pemedebismo. Por que, hoje, o federalismo representa a possibilidade de reduzi-lo?
Nobre: Na década de 1980, a crise econômica, associada à morte de Tancredo Neves, deu aos governadores um peso enorme. A primeira coisa que Fernando Henrique fez para estabilizar o país política e economicamente foi tirar poder dos governadores. Centralizou recursos e fez uma renegociação de dívidas cruel. O aumento da carga tributária de 25% para 32% foi distribuído desigualmente em favor da União. Esse processo, fundamental para a estabilização, foi usado por Lula para desligar a polarização. Os governadores são dependentes do governo federal. Um elemento para existir uma verdadeira oposição é dar mais recursos e autonomia aos Estados e municípios. Como teremos uma democracia sem assembleias estaduais e câmaras de vereadores ativas?