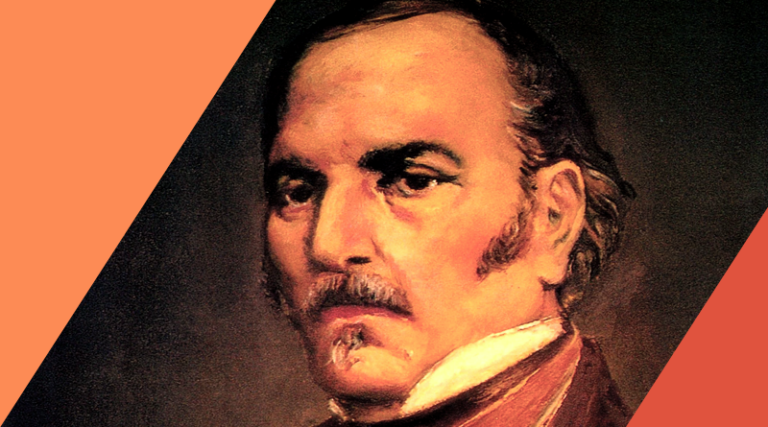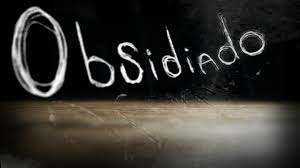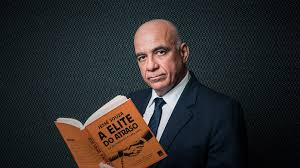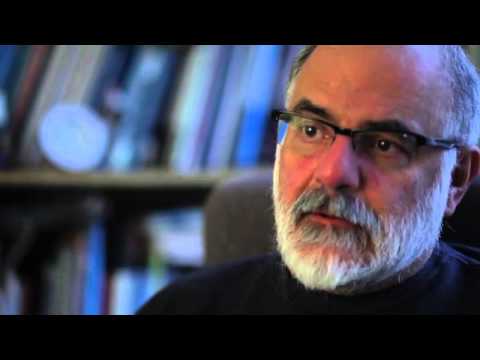A especialista em segurança pública fala em razão e empatia para lidar com o ódio e a polarização da sociedade
“Num momento de discurso da aniquilação do inimigo”, em que prevalece “a lógica de quem pensa diferente precisa ser calado”, a cientista política e especialista em segurança pública, Ilona Szabó, propõe “muita inteligência emocional e racional” e “um diálogo franco com a restante da sociedade civil”, para romper a polarização e o ódio nas redes sociais. “Se a gente recuar em todos os espaços de participação, ganha a parte autoritária”, diz.
Alvo de ataques e difamações há quinze anos por encabeçar discussões sobre temas que dividem a sociedade – como regulação de armas de fogo, a reforma da política de drogas e modernização da polícia –, Ilona foi secretária-executiva da Comissão Latinoamericana sobre Drogas e Democracia e também da Comissão Global de Políticas sobre Drogas. Em 2011, fundou o Instituto Igarapé, organização que elabora pesquisas e propõe políticas sobre segurança, justiça e desenvolvimento.
A mais recente onda de ataques contra a cientista política se deu em fevereiro deste ano durante a campanha #IlonaNão, promovida pela direita contra a sua nomeação como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a convite do ministro da Justiça Sérgio Moro. A hashtag alcançou os Trending Topics do Twitter e resultou na exoneração de Ilona apenas dois dias após a nomeação. À imprensa, o presidente Jair Bolsonaro justificou que a posição da pesquisadora sobre a legalização do aborto e outros temas são “incompatíveis com o governo”.
O episódio trouxe consequências: Ilona diz estar se sentindo insegura, evitando dar entrevistas ou falar publicamente sobre temas polêmicos. “Estou me sentindo tolhida. Pela primeira vez [no Instituto Igarapé] estamos fazendo uma autocensura para evitar riscos. Eu trabalho com esses temas há 15 anos e eu nunca pensei que a gente pudesse enfrentar esse tipo de risco.”
Em entrevista à Pública, Ilona Szabó também falou sobre o pacote anticrime proposto por Sérgio Moro e a escalada da violência policial, que para ela está ligada a atitudes do presidente Bolsonaro e de seus seguidores, e criticou a proposta do ministro Moro pelo fim da punição de policiais que matam “em legítima defesa”. “Você jamais pode dar autorização para que a polícia, força de segurança, qualquer cidadão, exceda o uso da violência. Isso é cruzamento de linha total. A gente está escolhendo se vai viver numa democracia ou num estado autoritário onde a próxima vítima pode ser você.”
Agência Pública: Quais foram as consequências da campanha #IlonaNão?
Ilona Szabó: Num momento de um discurso de aniquilação do inimigo, onde se trabalha com a lógica de que quem pensa diferente precisa ser calado, isso deixa a gente bastante vulnerável principalmente porque eu trabalho com a formação de opinião pública. Tem eu, a minha equipe, majoritariamente de mulheres, numa exposição pública muito grande. E a gente começou a se sentir mais insegura. Não tem problema discordar, o problema é quando entra desonestidade no debate. Ataque, mentira, difamação. Essa é a linha [que separa] com quem eu aceito debater em público ou não.
Infelizmente, a gente sabe que a violência, quando incitada, é muito difícil fazer a gestão de risco se ela irá vazar ou não para a vida real. É a primeira vez que a gente está pensando sobre isso de verdade no Instituto Igarapé. É uma crescente – estou deixando de dar entrevista sobre alguns temas, não estou me sentindo segura para falar. É escolher o tipo de briga que a gente compra ou não porque estamos sem capacidade de análise de risco, e não somos só nós – temos conversado com outras organizações da sociedade civil.
Antes tínhamos um cenário mais claro da institucionalidade que protegia a liberdade de expressão, a gente poder ter opinião [diferente] e ainda sentar à mesa. A gente nunca atacou as pessoas que pensavam diferente de nós, sempre conseguimos ser críticos construtivos e sentar com pessoas que pensam diferente. Essa questão está mais difícil agora, bem mais difícil, e isso traz muitos desafios ao nosso trabalho. Eu não posso dizer com quem eu encontro, com quem não encontro, tudo pode gerar uma crise. E não posso falar na imprensa sobre alguns assuntos. Estou me sentindo tolhida. Estamos fazendo uma autocensura para evitar maior exposição a riscos que a gente não está conseguindo medir. Eu trabalho com esses temas há 15 anos e nunca pensei que a gente pudesse enfrentar esse tipo de risco.
AP: O que virou a chave para que os ataques contra você atingissem essa proporção?
IS: O que acontece no Brasil, e a gente demorou para ver porque infelizmente estamos numa bolha, é que existe uma arquitetura de grupos bastante radicais que têm essa ideia não-democrática de aniquilar o outro. Não digo fazer alguma coisa física, mas nas redes sociais eles querem calar, não deixar que aquela opinião ganhe destaque ou seja discutida. Isso não é de hoje, mas o que potencializou nas eleições foi que essa máquina invisível do uso de robôs e outras táticas, foi impulsionada pelas redes fortalecidas com o processo eleitoral. A eleição é a consequência disso.
Meses depois da eleição ainda vemos essa ideia de que ou você apoia ou você é contra, e quem está contra precisa ser aniquilado porque está a favor dessa maluca conspiração comunista-globalista-nacionalista-tudo mais “ista” que todos nós estamos tentando descobrir o que significa.
AP: Quais outros ataques você sofreu ao longo da sua trajetória?
IS: Sofro linchamento virtual há muito tempo; há 15 anos eu falo sobre controle de armas e há 15 anos eu sofro ataques. Mas no final de 2017 e começo de 2018 teve um pico e foi o primeiro grande ataque que eu sofri, por conta do meu envolvimento com movimentos cívicos e de renovação política como o Movimento Agora!, do qual sou co-fundadora. Foi uma série de vídeos do MBL [Movimento Brasil Livre] dentro da temática controle de armas com uma retórica “globalista-comunista-braço do George Soros-quer liberar droga-quer defender bandido”. Esse grupo pegou a bandeira de uma turma pró-armas e começou a bater também em outras questões na arena da renovação política.
Os vídeos foram para canais com milhões de usuários, para o WhatsApp, e circulavam nessas redes que a gente depois viu serem multiplicadas ao longo da campanha presidencial. Chegaram às redes de policiais militares, de pessoas que estavam já construindo o que a gente viu nas eleições, e explodiram em perfis do Facebook, inclusive em perfis de autoridades. Aqui eu tenho que ter muito cuidado porque essa prática não acontece mais e por orientação jurídica eu resolvi não processar, mas os ataques vinham de membros do Ministério Público também. Pessoas que são pagas com o nosso dinheiro postavam as mesmas coisas que esse grupo [MBL] postava. Pegavam meus artigos e falavam barbaridades, chamavam o Instituto Igarapé de “Instituto Igarapó”.
AP: Dentro do Igarapé, quais foram as consequências dos ataques do MBL?
IS: Posso dizer com todas as letras que me causou um monte de problemas. Para o Igarapé foi muito difícil, eu nunca fui filiada a nenhum partido e as pessoas achavam que de fato eu estava planejando isso. Nossa missão é avançar políticas públicas baseadas em evidências para reduzir violência letal, no Brasil e no mundo. Eu tenho como mandato fazer pontes, tentar dialogar com quem pensa diferente, criar agendas mínimas. Poucas organizações da sociedade civil têm uma estratégia como a nossa. Quando usam isso para dizer que o Igarapé não é neutro, que está servindo a esse ou outro governo, me traz problemas, como se tivessem agendas escondidas no trabalho que a gente sempre fez. Eu tive que fazer uma mega redução de danos. O impacto maior foi no Rio de Janeiro, onde a gente estava começando a construir parcerias maiores com as lideranças políticas.
AP: Foi o MBL que começou a campanha difamatória pela sua exoneração?
IS: Tanto esses grupos de pró-armas quanto o MBL estiveram envolvidos no episódio #IlonaNão, mas se juntaram a uma rede muito mais poderosa: a máquina dos apoiadores do governo. O grupo pró-armas tem um nicho muito fiel e muito barulhento, mas ele não é gigante nas redes. Teve muita interação orgânica, mas também muito robô. Eu estava em Brasília quando começou a campanha no Twitter. Vi o post quando saí do avião, um amigo mandou. Estou acostumada a ler esse tipo de coisa, mas eu nem imaginava a dimensão que ia tomar.
AP: Alguns desses grupos que foram contra a sua nomeação e participaram da campanha difamatória contra você se auto-intitulam “anti-establishment”. Ao mesmo tempo, criticam vozes como a sua, que participam desse movimento por renovação política. É um paradoxo?
IS: Eu defendo um movimento por renovação política com base no estado democrático de direito. Essas pessoas estão usando o conceito da renovação política para caminhar para o autoritarismo. Infelizmente o nome foi apropriado. Para mim está muito clara essa diferença, entre grupos democráticos e grupos não-democráticos. A “nova política” não é o que a gente está vendo, não no sentido democrático. A pluralidade, a diversidade, o diálogo, a construção, a negociação que faz parte do jogo político – desde que aberta, transparente e baseada no interesse público –, tudo isso está muito ligado aos princípios da democracia. Esses grupos que são minoritários não têm esses mesmos princípios. Não são pela renovação política, até porque as práticas políticas que vêm sendo usadas não tem nada de novas, são práticas ultrapassadas, que enfraquecem a democracia.
AP: Quando o governo retirou sua nomeação ele foi conivente com os ataques que você sofreu?
IS: Sinceramente, o Ministério da Justiça ainda é um lugar que dá para divergir e conversar. Eles não foram desonestos comigo. Porém, a base de apoiadores do núcleo do presidente não tolerou alguém com ideias diferentes tendo algum tipo de voz, mesmo que não tivesse voto, pois não era um conselho deliberativo, apenas consultivo, voluntário. É essa base que quer aniquilar a diferença, mas ela não é o governo como um todo. Isso precisa ficar claro, até porque querem que você veja dessa forma porque isso acaba jogando um lado contra o outro e acredito que, na democracia, você precisa achar esses pontos de contato, e mesmo nessa situação eles existem. Eu continuo nesse diálogo com pessoas que estão dispostas a dialogar sobre agendas comuns, mesmo com divergências dentro desse governo.
AP: Há essa abertura, mas na prática parece não haver abertura, tanto é que você foi exonerada por pensar diferente.
IS: O governo não é uníssono, tem grupos disputando poder e influência. E alguns deles são contrários à aniquilação do inimigo, são grupos que podem pensar diferente mas que respeitam o jogo democrático. Outros, não. O fato de que um dos núcleos do governo, o núcleo com mais poder pois está ligado ao presidente, não aceita que eu esteja em uma posição formal, não quer dizer que os outros núcleos tenham se fechado. Eu tive diálogos com outros núcleos desse governo, há 15 anos eu dialogo com o Ministério da Justiça. Não vou deixar de falar, caso haja real disposição ao diálogo, o que não quer dizer que eu tenha capacidade de dialogar com o núcleo do presidente. Eu espero que eles mudem de opinião ao longo do mandato porque nenhum governo se sustenta dessa forma, não numa democracia. E a gente vai lutar para que esse país continue democrático. Eles precisam dialogar com a sociedade civil porque eles vão ter muitas questões que precisam de apoio da opinião pública.
AP: Como o terceiro setor poderá fazer a diferença dentro desse contexto em que há resistência ao diálogo?
IS: Na segurança pública há algumas organizações como o Instituto Igarapé que estão em um diálogo construtivo com essa parte do governo federal, que é uma parte mais técnica, digamos assim. Não somos os únicos, tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Sou da Paz, vamos juntos nesse diálogo. Estivemos há pouco tempo em uma reunião em Brasília onde discutimos indicadores, dados, sistema nacional de informação sobre segurança pública.
Quando você vai para o que de fato importa, que é como a gente vai melhorar a qualidade de entrega da segurança pública, existem organizações e acadêmicos que, independente de em quem votaram ou deixaram de votar, estão dispostos a sentar juntos e contribuir. O núcleo do Ministério da Justiça não está necessariamente ligado ao núcleo ideológico do presidente, no sentido de não querer dialogar.
AP: E como é ser mulher e com um olhar progressista atuando na segurança pública, à frente de um instituto, no Rio de Janeiro?
S: Óbvio que tem dificuldades, mas a gente conseguiu se colocar. Eu formei muitas equipes com mulheres que se tornaram referência em seus temas, que se provaram profissionais extremamente qualificadas. É importante formar uma rede de apoio, porque temos a obrigação de trazer outras conosco. A gente é muito mais cobrada, tem que estar mais preparada, a gente não vai ser, na maioria dos casos, ouvidas, então temos que nos colocar. E quando você tem argumentos técnicos, sabe o que está falando, facilita o jogo. Eu sou ouvida, mas ninguém me oferece a palavra, eu tomo a palavra. Eu protagonizei e presenciei a atitude de mulheres que mudaram o curso de diversas decisões, e é um olhar mais completo, faz toda diferença ter mulheres à mesa quando estamos falando de vida ou morte.
AP: Especialistas e pesquisas apontam que o caminho para a redução da violência está em pautas majoritariamente defendidas por progressistas, como encarcerar menos e educar mais, descriminalizar as drogas. Por que essas medidas não pegam?
IS: Como lado positivo do episódio da minha exoneração, teve muita gente que parou para olhar as pautas que o Instituto Igarapé trabalha. Eu não defendo pauta que não esteja embasada. As pessoas dizem que eu trabalho com temas polêmicos. Eu trabalho com temas difíceis para a sociedade, mas que para mim não tem absolutamente nada de polêmico, porque eu posso defender de A a Z o que eu estou falando aqui com o melhor embasamento científico que existe.
Quando você vai nas pesquisas – e a pesquisa do Datafolha pegou propostas super técnicas, como excludente de ilicitude, e disse, na prática, o que isso significa –, as pessoas são contra. A maioria das pessoas é contra que todo mundo tenha uma arma e possa andar armado, as pessoas são contra que um policial possa matar sem ser julgado, contra que um cidadão possa se exceder por medo, isso é uma excelente notícia. A população precisa de informação.
Eu me preocupo com a questão do linchamento virtual porque a incitação do ódio tem implicações práticas. Por isso o momento é tão delicado, mas é um momento em que as pessoas estão buscando um contraponto, onde a minoria vocal parece que detém a opinião pública, mas não é bem assim.
Com a criminalização dos movimentos sociais, com toda essa difamação e tentativa de tirar importância de participação social, a gente pode, se deixarmos, virar um país da não-verdade, onde as narrativas oficiais não são baseadas em fatos. Porém, eu acredito que estamos em um momento de disputar essas narrativas, a gente ainda tem uma imprensa capaz de disseminar, que ainda tem eco nas redes sociais, e tem muita gente que já acordou para o fato de que ninguém ganha com bangue-bangue, que o policial não pode fazer o que quiser sem cumprir a lei.
AP: Qual seria a saída, o diálogo?
IS: Eu não sou ingênua. Há partes do governo que não estão abertas ao diálogo. Quando não há essa abertura, o papel da sociedade precisa ser fiscalizar, monitorar, disseminar, colocar na imprensa, fazer pressão nacional, internacional. Nós não podemos aceitar retrocessos, decisões baseada em ideologia. O que estou dizendo é que há alguns espaços de interlocução e eles são preciosos. Na divergência a gente consegue construir as convergências. Aliados em uma pauta não são aliados em outra pauta. É assim mesmo quando você trabalha com temas que a sociedade vê como polêmicos.
Também é preciso uma grande discussão sobre as redes sociais. Hoje não é possível vencer um debate nas redes sociais porque nós não vamos usar das mesmas ferramentas que são usadas pelos polos. E não é só o polo da extrema direita; a difamação está mais forte do lado da extrema direita mas já foi usada pela extrema esquerda. Os dois polos usam ferramentas que não permitem que as pessoas que estão tentando de fato levar informações honestas, ganhem o debate. Isso é uma discussão muito de fundo sobre o papel das redes sociais e que eu, de fato, acho que estão impactando as instituições democráticas mundo afora. É um debate profundo que precisa ser feito com essas empresas na mesa.
AP: Um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime é sobre legítima defesa, que especialistas defendem ser “carta branca” para o policial matar. Essa já é uma questão na segurança pública. Com o pacote, vai piorar?
IS: Não tenho dúvida, o discurso já começou. Quando a gente olha para as mortes por policiais, é assustador o aumento. De 2017 para 2018 é 18% de aumento, alguns estados como Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aumentos muito expressivos. Pará chega a 64%; Rio e Ceará, 36%. Algumas das estratégias que foram colocadas e que acabam dando uma trégua nas mortes violentas no geral, elas trazem, com esse discurso da incitação à violência, efeitos colaterais, como maior uso da violência pela polícia. Se você não tem autoridades que coíbam isso e, pelo contrário, incentivam, é uma tragédia.
A gente precisa cobrar dos governantes, sejam nacionais, sejam estaduais, que isso seja freado. Já está muito claro com as ocorrências que estão surgindo, como os indícios de execução no morro do Fallet, no Rio de Janeiro; depois o caso do músico Evaldo Rosa, que é um absurdo. É inexplicável o que aconteceu a não ser que você de fato pense no contexto. Que outra explicação você tem para o fato de que militares treinados desobedeceram totalmente as regras de abordagem, de uso da força, e acharam que podiam, na dúvida, atirar, sendo que o procedimento é: na dúvida, nunca atire. Há um impacto tenebroso do discurso de incitação à violência, da aceitação da violência policial, na prática. Coloca todo mundo em risco, pessoas comuns, pessoas que cometeram crimes, policiais. Essa medida [do pacote anticrime] é uma das mais graves. Você jamais pode dar autorização para que a polícia, força de segurança, qualquer cidadão, exceda o uso da violência. Isso é cruzamento de linha total. A gente está escolhendo se vai viver numa democracia ou num estado autoritário onde a próxima vítima pode ser você.
Eu não diria que o pacote não presta como um todo. Há medidas que são boas, como as que ajudam a investigação policial e a desvendar crimes violentos. Mas precisamos de debates amplos envolvendo toda a cadeia de segurança pública para poder formar uma opinião.
AP: Figuras como Jair Bolsonaro têm como bandeira principal a segurança pública, mas defendem medidas como facilitar a posse de armas e o encarceramento, que pesquisas e especialistas apontam não ser caminho mais eficaz. Na sua análise, por que existe essa contradição
IS: A maneira como as pessoas pró-armas, que defendem o porte mesmo, isto é, o direito de andar armado, ter armas de calibre restrito, essa é uma posição ideológica, não está baseada em fatos, pelo contrário. Ela é uma posição que tem sido usada no Brasil e mundo afora, em especial no Estados Unidos, para inflamar certas ideologias políticas. São temas que podem ser usados para fortalecer e manipular massas eleitorais.
Se você for olhar para o que certo perfil de homem defende, é uma questão cultural, estamos trabalhando com questões de masculinidade, certamente é muito mais profundo que não respeitar direitos humanos. Até porque, na cabeça de quem segue essas ideologias, eles são os guardiões das famílias, da tradição da propriedade. É muito mais complexo. Se a gente não tiver uma escuta do que eles estão falando, não tem como trazer para uma posição mais razoável.
O que eu posso dizer a partir da minha experiência, do que eu já conversei e converso com muita gente, é que quando você consegue uma conexão pessoal, é muito possível uma mudança para uma posição muito mais moderada. Já tive inúmeras situações onde eu mudei a posição das pessoas em relação a esse tema.
Quem propaga essas ideias, no campo político-ideológico, faz isso porque está mexendo com o medo das pessoas. A gente tem que entender isso e conversar com as pessoas para que elas entendam que isso é uma manipulação e há maneiras muito mais eficazes e responsáveis de estar direcionando o medo. Se a gente não quiser acentuar essa maluquice da polarização, o exercício da empatia e do diálogo é fundamental para virar o jogo.
AP: Imagino que seja difícil o exercício da empatia quando os ataques são muitos, como é o seu caso.
IS: Quando você entende que algumas pessoas estão sendo manipuladas e se coloca numa posição de escuta, o que é muito difícil, é transformador. Você entende que dá para mudar, há pontos de sinergia mesmo com essas pessoas. Ao serem confrontadas de uma maneira não agressiva, elas baixam a guarda. É possível desmontar essa maluquice.
Eu não sou a Madre Teresa, é difícil. Mas tenho aprendido muito com essa tentativa de entender e de dialogar. Faz parte do nosso processo de aprendizado também, porque nós, especialistas, ativistas, achamos que somos donos da razão. A gente pode ter boas informações mas o mundo se move por outras motivações. Temos problemas muito complexos e estamos trabalhando contra forças que não são democráticas e a gente tem que usar de uma inteligência emocional e racional absolutamente diferente do que fez até hoje. Se a gente achar que é nós contra eles, está todo mundo lascado. Os polos não são a maioria. Se a gente não trabalhar as divergências, vai ganhar a gritaria, e a gritaria não traz nada de bom para o que a gente quer construir. Está nas nossas mãos essa decisão.
ATUALIZAÇÃO às 19h20 de 23.04.2019 – A assessoria de comunicação de Ilona Szabó esclarece que, na entrevista à Agência Pública, quis referir-se à extrema direita, e não à direita como acabou declarando na conversa com a repórter Nyle Ferrari e que motivou o título “A direita está falando em renovação política para chegar ao autoritarismo”. Segundo Ilona, tanto a pressão contra a sua nomeação como suplente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, quanto os radicalismos identificados especialmente nas redes sociais vêm da extrema direita – como no passado já esteve presente na extrema esquerda. Ilona Szabó e o Instituto Igarapé têm se preocupado em dialogar com a esquerda e com a direita justamente para evitar a polarização e a radicalização promovidas por esses extremos que levam ao autoritarismo.