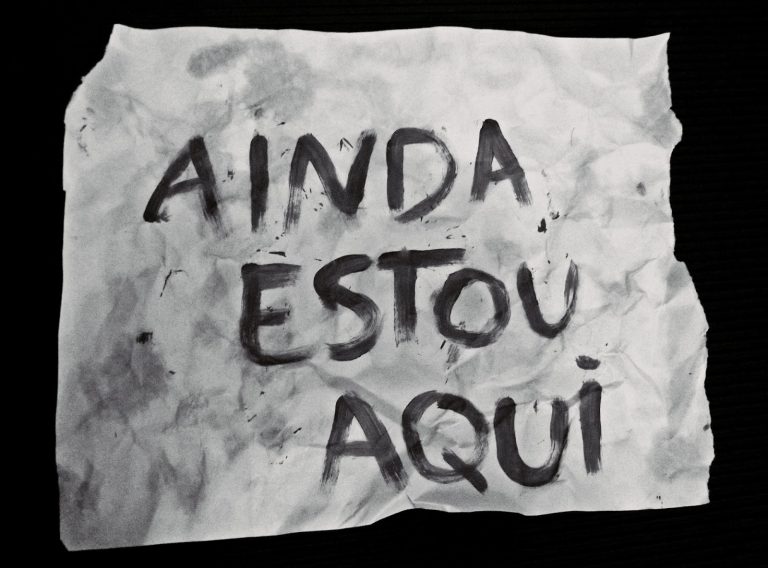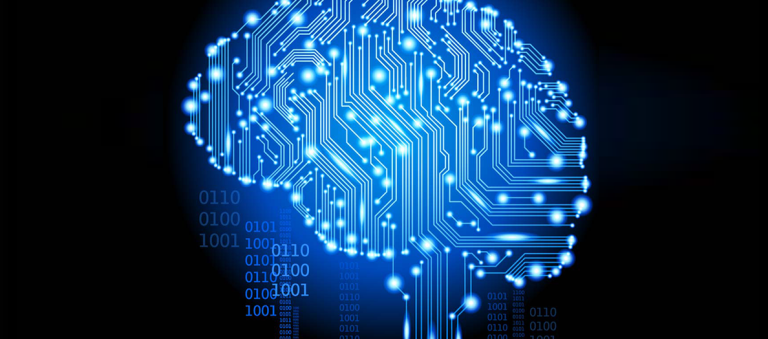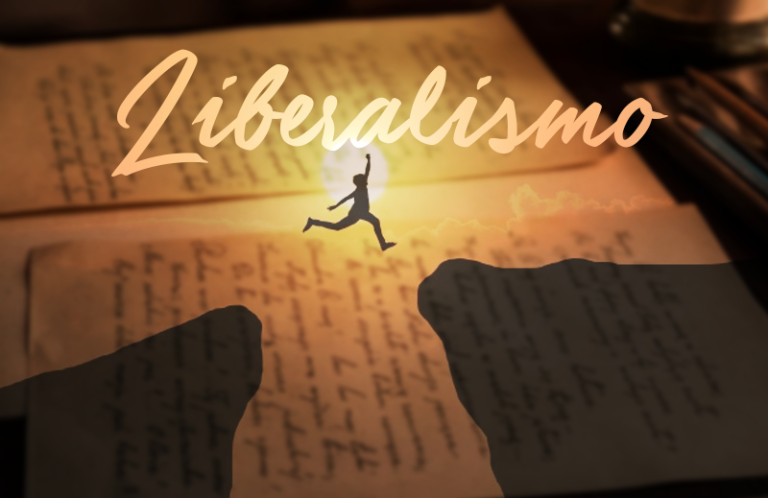Giovanni Alves – A Terra é Redonda – 14/11/2024
Trechos, selecionados pelo autor, da introdução do livro recém-lançado
A miséria da política no Brasil neoliberal
O objetivo do livro O Estado neoliberal no Brasil: Uma tragédia histórica é explicar a gênese, afirmação e consolidação do Estado capitalista neoliberal no Brasil, uma estrutura política que impede a nação de oferecer respostas efetivas à crise de civilização que a aflige. Esse modelo de Estado é incapaz de combater a desigualdade social, construir um projeto de nação livre e soberana e enfrentar de maneira eficaz os desafios das transições climática, demográfica e epidemiológica, que devem convulsionar a sociedade brasileira nas próximas décadas. Esta é uma verdade inegável.
Na Parte 1, apresento importantes conceitos da teoria política marxista que explicam a miséria política brasileira, responsável pelo colapso da Nova República e pela consolidação do poder da oligarquia financeira – a fração de classe que organiza o bloco no poder do Estado neoliberal no Brasil.
A Parte 2 trata dos sistemas que sustentam o Estado neoliberal no Brasil: o sistema da oligarquia financeira, o sistema de superexploração do trabalho e o sistema de produção da ignorância cultural no país. Por fim, elaboro uma reflexão sobre a construção da sociedade civil neoliberal, a base da hegemonia burguesa que mantém o poder dominante.
O Estado neoliberal é o Estado político do capital na fase do capitalismo global. Como país de capitalismo dependente e subalterno à mundialização do capital, o Estado neoliberal se reproduziu no Brasil com base histórica no Estado oligárquico-burguês, fortalecido e perpetuado pela ditadura civil-militar (1964-1984).
A perpetuação do Estado oligárquico-burguês é secular, refletindo historicamente o poder social das classes dominantes brasileiras: (i) o patronato agrário-industrial, financeiro-rentista parasitário e comercial; e (ii) o patriciado estatal (político-militar e tecnocrático) e civil (eminências, lideranças e celebridades). Como aliados históricos das classes dominantes, temos os setores intermédios (autônomos e dependentes). [1]
No campo da disputa ideológica e política pela sustentação da forma de Estado oligárquico-burguês neoliberal, temos as classes subalternas (operariado, assalariados de serviços e campesinato) e as classes oprimidas (os miseráveis ou a ralé). Como nunca tivemos uma revolução social no Brasil, o poder da oligarquia proprietária e das camadas patriciais se enrijeceu na estrutura material do Estado brasileiro, sendo reproduzido secularmente pelo modo politicista de fazer história no Brasil (negociação, clientelismo, conciliação).
Desde a Independência do Brasil, há 200 anos, a forma estatal oligárquico-burguesa de dominação de classe reflete a hegemonia ideopolítica e cultural do capital, tanto na “sociedade política” (o Estado propriamente dito) quanto na “sociedade civil”. A classe dominante (patronato e patriciado) é também classe dirigente, na medida em que produz e reproduz o metabolismo ideológico-mental adequado à dominação de classe.
A ideologia da classe dominante é a ideologia dominante na sociedade – eis a lei histórica. As classes subalternas e oprimidas nunca conseguiram disputar historicamente a hegemonia intelectual-moral na sociedade civil e a direção político-moral do Estado propriamente dito. As ideias, a cultura e o pensamento social brasileiros refletiram, de certo modo, os humores, idiossincrasias e a visão de mundo burguês oligárquico-senhorial da nossa formação capitalista dependente.
Isso se refletiu inclusive no pensamento da esquerda social e política, que não conseguiu efetivamente ir além das estruturas deformadas da visão liberal do mundo reproduzida pelos donos do poder. Nosso objetivo é criticar o Estado neoliberal enquanto materialidade política ampliada do capital: sociedade política e sociedade civil neoliberais. É essa materialidade política do Estado neoliberal ampliado, tal como iremos apresentar aqui, que reproduz no Brasil a dominação burguesa nas condições históricas da crise estrutural do capitalismo brasileiro.
Nesta introdução, apresentaremos as principais características que configuram a miséria política sob o capitalismo neoliberal: o politicismo, o fisiologismo, o taticismo, o pragmatismo e o burocratismo. Todos eles compõem o complexo da pequena política. Não foi o Estado neoliberal que criou a miséria da política, mas ele exacerbou, com o império da pequena política, as determinações estranhadas da politicidade alienada do capital. Na verdade, a miséria da política nas condições históricas do capitalismo periférico hipertardio e dependente, de extração colonial-escravista, faz parte historicamente da estrutura da materialidade política brasileira e do modo de dominação política da oligarquia brasileira.
No século XXI, com a crise estrutural do capital e a decadência do projeto civilizatório burguês, exacerbou-se – no centro e na periferia – a crise da democracia liberal, devido à falência histórica da esquerda social e política (o grande transformismo) e à incapacidade do centro-direita de resolver os problemas do capitalismo à deriva. Enquanto estrutura de poder, o Estado neoliberal tornou-se a expressão da tragédia histórica brasileira. O Brasil, país de capitalismo periférico dependente e subalterno à ordem mundial do capital, a partir de 1980 – com a crise da dívida externa –, afundou seu projeto de civilização construído desde a década de 1950, entregando-se de vez, a partir de 1990, à programática neoliberal.
Na verdade, esta foi a escolha política da burguesia brasileira, organicamente subordinada aos interesses do poder imperial dos EUA – a mesma burguesia que fez o Golpe de 1964 e sustentou o regime militar autocrático até sua decrepitude acelerada com a crise do capitalismo na década de 1970. Foi a mesma burguesia associada ao imperialismo que operou a transição lenta, gradual e segura para a democracia política – transição pelo alto, concertada com os militares na década de 1980.
A Constituição de 1988 foi produto da correlação de forças sociais e políticas na década de 1980 no Brasil. Ela materializou a hegemonia burguesa sob o nome de Estado democrático de direito, criando, naquela época, um sistema político que pudesse reproduzir o complexo da miséria política que iremos descrever neste capítulo. Foi a burguesia de cariz autocrático e de formação escravista-colonial que – com o medo ontogenético do povo brasileiro – produziu e apoiou o candidato que, a partir de 1990, implantaria o programa neoliberal no Brasil: Fernando Collor de Mello (PRN [2]).
Mas a Nova República, instaurada com a Constituição de 1988, durou até 2016. Com a crise profunda do capitalismo global a partir de 2008 e a longa depressão da década de 2010, a burguesia brasileira, classe dominante e dirigente do Estado neoliberal, operou – mais uma vez – um golpe de Estado – não mais na forma militar (como em 1964), mas na forma jurídico-parlamentar (lawfare [3]), visando destituir a Presidenta Dilma Rousseff (PT), obstáculo político para que a classe dominante e suas frações pudessem reestruturar o capitalismo brasileiro a seu modo, por meio do aumento da taxa de exploração e da espoliação das riquezas nacionais.
Foi assim que foi consolidado o Estado neoliberal no Brasil. Entendemos o Estado neoliberal como a materialidade política do declínio civilizatório no Brasil. Trinta anos de Estado neoliberal foram mais do que suficientes para constatarmos os resultados da política de reforço do sistema da dívida pública (austeridade neoliberal permanente), do sistema de superexploração da força de trabalho (predomínio dos baixos salários) e do sistema de produção da ignorância cultural (manipulação midiática numa intensidade nunca antes vista na história brasileira).
A década de 1990 foi marcada pelas contrarreformas neoliberais no Estado e na economia, bem como pelo fortalecimento do ethos neoliberal na sociedade civil por meio da manipulação midiática. Foi assim que se constituiu o Estado neoliberal, uma estrutura de poder reproduzida nas décadas seguintes por todos os governos – de direita ou de esquerda – da República brasileira. O PT, partido histórico da esquerda brasileira, passou por um Grande Transformismo [4] e conformou-se com a reprodução da ordem dominante.
Durante os governos do PT, sob o espírito do lulismo, afirmou-se o Estado neoliberal. O neoliberalismo eliminou a política, mas isso só ocorreu devido à eliminação do protagonismo antagônico da esquerda social e política contra a ordem burguesa [5]. Tanto quanto o neoliberalismo, o Grande Transformismo foi responsável pelo aprofundamento da miséria política na vida brasileira. Assim, a morte da política pelo neoliberalismo é a morte da esquerda social e política capaz de criticar a ordem burguesa. Isso contribuiu para consolidar o Estado neoliberal, que em 2024 completa trinta anos de domínio efetivo do capitalismo neoliberal no país – com o apoio da esquerda brasileira representada pela figura carismática de Luís Inácio Lula da Silva (PT).
A distinção metodológica entre Estado e governo
É crucial distinguir entre Estado e governo. O governo é uma parte do Estado. Os partidos eleitorais visam apenas administrar a materialidade do Estado político do capital, aspirando, portanto, ao governo para ocupar cargos e gerir o establishment, ou seja, o poder da burguesia. A diferença entre governo e Estado é, de fato, uma questão complexa que tem sido objeto de debate na ciência política por séculos.
De forma geral, pode-se afirmar que o Estado é a entidade soberana que detém o monopólio da força legítima, com o objetivo de garantir as relações de propriedade da classe dominante. Ele é produto de uma construção histórico-social das classes proprietárias, surgindo da necessidade de organizar (dominar/dirigir) a sociedade e assegurar sua ordem e segurança como pré-requisitos para a reprodução social.
O Estado é composto por um conjunto de instituições, entre elas o governo, além do exército, da polícia e do sistema judiciário. O Estado também possui um território definido, uma população e soberania, enquanto o governo é o conjunto de instituições que administra o Estado. O governo, por sua vez, é a instituição que exerce o poder político dentro do Estado, formado por um conjunto de pessoas, geralmente eleitas, responsáveis por tomar as decisões que governam a sociedade.
O governo pode ser dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Portanto, a principal diferença entre governo e Estado é que o governo administra o Estado, ou seja, é responsável por tomar as decisões que regem a sociedade, enquanto o Estado é a materialidade política que garante a ordem e a segurança da sociedade capitalista. O Estado é uma instituição permanente, enquanto o governo é temporário, eleito por um período determinado. O monopólio da força legítima é uma característica do Estado, e não do governo. [4]
No Brasil, o Estado é uma república federativa, o que significa que está dividido em três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Cada nível possui suas próprias atribuições e responsabilidades. O governo federal cuida de políticas nacionais, como defesa, economia e diplomacia. Os governos estaduais são responsáveis por políticas estaduais, como educação, saúde e segurança pública. Já os governos municipais tratam de políticas locais, como saneamento básico, transporte público e cultura. Todos os governos eleitos no período da Nova República no Brasil – sejam de direita ou de esquerda – apenas reproduziram e consolidaram o Estado neoliberal. Devido à pressão do bloco no poder, esses governos aceitaram os limites de sua função administrativa.
Mesmo os governos do PT, o principal partido de esquerda do país, renunciaram a uma estratégia de poder que ultrapassasse a materialidade política do Estado capitalista brasileiro, que, desde 1990, foi constituído como um Estado neoliberal. Por exemplo, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal [6] tornou-se uma cláusula pétrea do Estado brasileiro, que todos os governos optaram por obedecer.
Caso desafiassem essa lei, sofreriam não apenas penalidades legais, mas também as impostas pelo mercado financeiro, que os obrigaria a se submeter a outra cláusula pétrea: o sistema da dívida pública ou sistema da oligarquia financeira. Os governos de esquerda, eleitos a partir de 2002, apenas procuraram operar da melhor forma a nova ordem neoliberal, implantando medidas compensatórias no âmbito social para os mais pobres, sempre respeitando os interesses da classe proprietária. Esse é o espírito de colaboração de classes que caracterizou os governos de esquerda desde então.
À medida que o Estado neoliberal se consolidava, com seus sistemas de dominação de classe, ele sobrepôs-se e subordinou a sociedade civil. Em suma, os dirigentes políticos do maior partido de esquerda no Brasil renunciaram a um projeto de poder que superasse o Estado neoliberal e, em vez disso, buscaram reforçá-lo. Quando eleitos em 2022, a esquerda política, representada pelo PT, paralisou-se diante do poder consolidado do Estado neoliberal, sendo incapaz de implantar seu programa de mudanças sociais, devido à falta de margem de manobra. Esse foi o resultado de mais de 20 anos de conciliação de classes e acomodação ao Estado neoliberal, o que, hoje, tornou inoperante a esquerda social e política.
Estado neoliberal e a tragédia da política
Além de esclarecer o que é o Estado neoliberal, nosso livro busca criticar a esquerda brasileira, que renunciou à crítica do Estado neoliberal, limitando-se a operar a ordem dominante, administrando-a e, enquanto suposta esquerda, tentando torná-la mais humana, mas sem promover um projeto (ou ação) contra-hegemônica. Essa postura política da esquerda social-liberal, representada pelo PT (Partido dos Trabalhadores), esgotou-se e hoje se encontra rendida ao Estado neoliberal.
O horizonte da luta política dessa esquerda social-liberal – como a chamaremos – resume-se à vitória eleitoral e à governabilidade dentro da ordem neoliberal. Enquanto a direita neoliberal e a extrema direita são contrarreformistas, a esquerda social-liberal administra a nova materialidade política e social resultante da nova ordem neoliberal, limitando-se a “reformas de baixa intensidade”. No fundo, ela não possui uma estratégia de contrapoder, mas se dedica a táticas de luta política focadas em eleições, reeleições e ocupação de cargos nas instituições do Estado.
A esquerda neoliberal não é uma esquerda reformista, como era a esquerda social-democrata, mas sim uma esquerda contrarreformista. Por isso, podemos afirmar que a esquerda brasileira faliu de uma vez por todas, à medida que todo seu espectro politicamente relevante – PT e PSOL – incorporou as características estruturais da política burguesa no Brasil, como descreveremos a seguir. Esta é a maior tragédia histórica do Brasil. As formas ideológicas da miséria da praxis política alienada, que têm caracterizado nosso sistema político, servem para reproduzir a ordem do capital.
Essas formas alienadas de politicidade do capital aderiram à praxis política, provocando uma distorção irremediável. Ao incorporar essas determinações da politicidade alienada do capital, a esquerda social-liberal contribuiu para a morte da política e da democracia liberal, ao se identificar com seus oponentes históricos. Embora se apresente como alternativa à direita neoliberal, a esquerda social-liberal tornou-se cada vez mais incapaz de mudar a ordem burguesa, que hoje não consegue atender às demandas civilizatórias.
A morte da política – que é também a morte da esquerda – é uma operação fundamental da ofensiva neoliberal do capital. O capital subsumiu a política de esquerda, degradando-a da mesma forma que degradou o trabalho, o consumo, a cultura e a sociedade. Isso configura o novo sociometabolismo do capital ou o sociometabolismo da barbárie no plano da praxis política. Incapaz de oferecer um projeto civilizatório, o capital produz o sociometabolismo da barbárie.
No caso de países de capitalismo dependente, hipertardio e com formação escravista-colonial, a degradação da política sempre foi uma estratégia de dominação da classe dominante. Contudo, em décadas passadas, havia movimentos de oposição de esquerda capazes de vislumbrar a grande política. Na década de 1980, quando se criou o PT, por exemplo, havia um horizonte para a grande política, apoiada em uma base organizada da classe. À medida que o capital desmantelou a classe operária, também desmantelou sua representação política. Foi isso que mudou com a ofensiva neoliberal do capital – a subsunção da política de esquerda ao capital.
A miséria da política brasileira não foi criada pelo capitalismo neoliberal. Nossa tradição política oligárquica e golpista, há séculos, degradou a atividade política das massas, esvaziando seu valor fundamental. A pequena política, com sua constelação de atributos alienados, domina a praxis política desde a Proclamação da República em 1889. Portanto, não é novidade a cultura do fisiologismo e oportunismo, prática da direita conservadora nacional, impregnada pelo taticismo.
A política foi reduzida a um jogo de interesses esvaziados de ideologia, moldado pelas conveniências do momento. A forma autocrática de dominação burguesa no Brasil contribuiu para esvaziar o valor da política como instância para a transformação social. Isso explica a despolitização ontogenética da sociedade brasileira. “Política não se discute”, diz o ditado popular. A cultura da despolitização, que impregna o imaginário popular, reforça o fisiologismo (ou metabolismo político) da dominação oligárquico-burguesa.
A tragédia do Brasil é que, após uma década de transição para a democracia política, o país se rendeu à ofensiva neoliberal, que, por natureza, é hostil à socialização da política e à democratização da sociedade. A Nova República estava condenada no ato. Assim, elevou-se a um patamar superior a miséria política brasileira, com a esquerda social-liberal incorporando-se a ela ao renunciar à transformação do Estado neoliberal, limitando-se a um projeto de governo. A era do capitalismo neoliberal é a era de decadência histórica do capital, em razão de sua crise estrutural.
Dessa forma, todos os valores caros à civilização burguesa, oriundos da Revolução Francesa, perdem sentido. A democracia liberal, esvaziada de seu significado real, diante da precarização estrutural do trabalho, entra em profunda crise, junto com o sistema político. A ascensão da extrema-direita é o atestado de óbito da democracia liberal.
Após a década neoliberal, a política entrou em uma era de indeterminação. [8] O capitalismo terminal, tornado farsesco, rebaixou a democracia política ao que ela realmente é: um significante poderoso, mas impotente diante da concentração de renda e da desigualdade social, do abismo entre ricos e pobres. A democracia burguesa perde seu valor na era neoliberal porque se torna irrelevante diante da incapacidade visceral do Estado neoliberal de resolver a questão social no século XXI.
Por não ser uma democracia substantiva e de valor universal, transforma-se em uma democracia acessória, desvalorizada pelas massas insatisfeitas, que, ao contrário, cultivam o ódio à democracia.[9]
A pequena política e praxis política alienada
A distinção entre “grande política” e “pequena política” é um conceito do marxismo de Antonio Gramsci, fundamental para caracterizar não apenas a política na era neoliberal, mas também a política historicamente dominante no Brasil desde a fundação da República. A pequena política sempre esteve presente, e o que fazia a diferença era a atuação da esquerda. A pequena política representa a miséria da prática política, em torno da qual gravitam diversos atributos alienados. Ela é uma ideologia da práxis política que a classe dominante brasileira sempre cultivou e disseminou tanto na sociedade civil quanto na sociedade política.
Os conceitos de “pequena política” e “grande política” formam um par conceitual que serve não apenas para definir traços decisivos do conceito geral de política, mas também aparece como um elemento essencial naquilo que Gramsci chama de “análise das situações” e “relações de força”. O predomínio de uma ou outra forma de ação política – seja a “pequena” ou a “grande” política – é decisivo para determinar qual classe ou grupo de classes exerce a dominação ou a hegemonia em uma situação concreta, e de que modo o faz.
Segundo Antonio Gramsci: “Grande política (alta política) e pequena política (política do dia a dia, política parlamentar, de corredor, de intrigas). A grande política abrange as questões ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela destruição, defesa ou conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena política abrange as questões parciais e cotidianas que surgem dentro de uma estrutura já estabelecida, decorrentes de lutas pela predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política”. [10]
A hegemonia ancestral da burguesia brasileira degradou historicamente a práxis política, obstruindo qualquer movimento de catarse, elemento central da práxis política segundo Gramsci. Lembrando o conceito gramsciano de “catarse”, podemos afirmar que apenas a “grande política” realiza o “momento catártico”, ou seja, a passagem do particular ao universal, do econômico-corporativo ao ético-político, da necessidade à liberdade. Gramsci nos adverte, contudo, que “é grande política tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo à pequena política” [11]. Isso foi o que a burguesia brasileira fez historicamente: excluir a grande política do horizonte prático e sensível das massas.
Em outras palavras, para as classes subalternas, o predomínio da pequena política é sempre sinal de derrota. No entanto, esse predomínio pode ser – e frequentemente é – a condição para a supremacia das classes dominantes. Quando a esquerda social-liberal, a partir da década de 1990, renunciou a operar a transição do particular ao universal, do econômico-corporativo ao ético-político, e da necessidade à liberdade – ao abdicar, por exemplo, da luta pelo socialismo – consolidou a supremacia da pequena política. Essa foi a grande derrota histórica que permitiu a consolidação do Estado neoliberal.
A oposição entre “grande política” e “pequena política” também se aplica à ação dos intelectuais. O “Grande Transformismo” não se limitou à práxis política, mas também envolve a atuação intelectual. O cerne do grande transformismo foi justamente isso: o predomínio da pequena política em detrimento da grande política, no sentido do abandono da perspectiva da totalidade social e da classe social que permitiria um horizonte além do capitalismo e a elaboração de uma perspectiva socialista.
O fato de a esquerda ter sido reduzida à pequena política não impede que a burguesia seja forçada a praticar a grande política. A pequena e a grande política não se resumem a uma distinção entre reação e progresso. Na era do capitalismo neoliberal, a burguesia conduziu a grande política no sentido da reestruturação capitalista, operando contrarreformas e processos de subjetivação catárticos às avessas.
Se o “momento catártico” representa a passagem do particular ao universal, do econômico-corporativo ao ético-político, da necessidade à liberdade, o momento catártico às avessas representa a produção de subjetivações particularistas, incapazes de agir na perspectiva ético-política, resultando no sociometabolismo da barbárie. Ao imiscuir as massas proletárias e a esquerda política e social na pequena política, com a estreiteza de programas e a debilidade da consciência nacional, a burguesia demonstrou um imenso esforço para impedir qualquer mudança radical. E esse esforço imenso da burguesia é, em si, uma grande política. [12]
*Giovanni Alves é professor aposentado de sociologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Autor, entre outros livros, de Trabalho e valor: o novo (e precário) mundo do trabalho no século XXI (Projeto editorial Praxis).
Referência
Giovanni Alves. O Estado neoliberal no Brasil: Uma tragédia histórica. Marília, Projeto editorial Praxis, 2024, 302 págs.
[1] RIBEIRO, Darcy. Os brasileiros: 1. Teoria do Brasil. Vozes: Rio de Janeiro, p. 97.
[2] O Partido da Reconstrução Nacional (PRN) foi fundado em 1989. Surgiu de uma cisão do Partido Democrata Cristão (PDC) e teve como figura mais proeminente Fernando Collor de Mello, que seria eleito presidente do Brasil no mesmo ano em que o partido foi fundado.
[3] Lawfare é um termo que combina as palavras “law” (lei) e “warfare” (guerra) para descrever o uso estratégico da legislação e dos processos jurídicos como uma forma de guerra. Em essência, o lawfare envolve o uso (ou abuso) do sistema legal para atingir objetivos políticos, econômicos ou militares, prejudicando adversários, enfraquecendo opositores, ou desacreditando figuras públicas. Esse conceito se aplica tanto em contextos nacionais quanto internacionais.
[4] Compreendemos o “Grande Transformismo” como o processo de mudança ideológica e política experimentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na década de 1990. Essa transformação resultou na conversão do partido em um administrador da ordem burguesa neoliberal, levando-o a abdicar de políticas de reformas sociais abrangentes em favor de políticas públicas focalizadas e programas de transferência de renda. Este fenômeno não se limitou ao Brasil, sendo parte de uma tendência global que afetou partidos de esquerda social-democrata e trabalhista em diversos países. Exemplos notáveis incluem o Partido Trabalhista britânico sob a liderança de Tony Blair e o Partido Social-Democrata alemão sob Gerhard Schröder. O Grande Transformismo representou, portanto, uma mudança significativa na orientação política e nas práticas desses partidos, alinhando-os mais estreitamente com políticas econômicas neoliberais e afastando-os de suas raízes ideológicas originais. Antônio Gramsci utilizou o termo “transformismo” para referir-se à cooptação gradual de elementos da oposição política pela classe dominante ou pelo grupo no poder. Gramsci desenvolveu este conceito analisando a política italiana do final do século XIX e início do XX, particularmente o período do Risorgimento (unificação italiana). O transformismo é um mecanismo pelo qual a classe dominante mantém seu poder, absorvendo e neutralizando potenciais lideranças das classes subalternas. Ao cooptar indivíduos ou grupos da oposição, o transformismo enfraquece movimentos de resistência e mudança social. O objetivo principal é preservar a ordem social existente, evitando mudanças estruturais significativas. Pode ocorrer através de concessões políticas, ofertas de cargos, ou incorporação parcial de demandas da oposição. O transformismo afeta a formação de uma vontade coletiva nacional-popular, dificultando a organização das classes subalternas, sendo uma estratégia para manter a hegemonia cultural e política da classe dominante. Gramsci via o transformismo como uma forma de evitar reformas substanciais, mantendo mudanças superficiais.
[5] Esta morte da esquerda é o que Francisco de Oliveira denominou de “hegemonia às avessas” no livro homônimo de 2010 (OLIVEIRA, Francisco; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibele (Org.) Hegemonia às avessas: Economia, Política e Cultura na Era da Servidão Financeira. Boitempo editorial: São Paulo, 2010, p. 21). Neste mesmo livro, Carlos Nélson Coutinho comparece com o capítulo intitulado “A hegemonia da pequena política”.
[6] BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: Fragmentos de um dicionário político. Paz e Terra, Rio de Janeiro. p.69-84
[7] A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é uma legislação brasileira que foi promulgada em 4 de maio de 2000, com o objetivo de estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal dos entes federativos, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios. Oficialmente conhecida como Lei Complementar nº 101/2000, a LRF tem como principal meta garantir o equilíbrio das contas públicas, promovendo uma administração mais responsável, transparente e eficiente dos recursos públicos.
[8] Francisco de Oliveira usou o conceito de “era da indeterminação” para descrever um período histórico em que as antigas certezas e categorias analíticas tradicionais, especialmente aquelas relacionadas à política, economia e sociedade, tornaram-se insuficientes para explicar a complexidade do mundo capitalista neoliberal. Esse conceito aparece em suas reflexões sobre o capitalismo globalizado e o impacto do neoliberalismo, particularmente no contexto brasileiro e latino-americano. O livro intitulado “A era da indeterminação” publicado em 2007 foi organizado por Franscisco de Oliveira e Cibele Saliba Rizek. Na “era da indeterminação”, de acordo com Francisco de Oliveira, há uma crise nas estruturas tradicionais que antes orientavam a sociedade, como o Estado-nação, as formas de trabalho, as ideologias políticas e as instituições democráticas. A indeterminação se refere a um estado de incerteza e de transição, em que os antigos modelos não se aplicam mais plenamente, mas novos modelos ainda não foram estabelecidos de forma clara. Alguns pontos principais do conceito apresentados no livro são os seguintes incluem: (1). Colapso das Certezas Ideológicas e Políticas: Oliveira argumenta que, na era da indeterminação, as distinções tradicionais entre esquerda e direita perdem clareza, especialmente à medida que movimentos de esquerda adotam práticas neoliberais (o que ele mais tarde – em 2011 – denominou “hegemonia às avessas”). Isso gera uma crise de identidade política, onde as categorias ideológicas tradicionais não conseguem mais descrever adequadamente a realidade. (2). Subordinação da Política ao Capital: Um aspecto crucial da era da indeterminação é a subordinação crescente da política ao capital, particularmente ao capital financeiro. Oliveira via o neoliberalismo como uma força que reconfigurou a política, tornando-a cada vez mais incapaz de controlar ou moderar as forças do mercado. Isso leva a uma crise da política, onde as decisões econômicas dominam a agenda, deixando pouco espaço para projetos políticos transformadores. (3). Fragilidade das Instituições Democráticas: Na era da indeterminação, as instituições democráticas se tornam frágeis, com sua capacidade de representar e responder às demandas sociais sendo questionada. Essa fragilidade é exacerbada pela concentração de poder econômico e pela desigualdade social, que minam a legitimidade e a eficácia das democracias. A era da indeterminação é caracterizada por um sentimento generalizado de incerteza e transitoriedade. As regras e normas que antes regulavam as relações sociais e econômicas parecem cada vez mais voláteis e imprevisíveis. Isso se reflete em fenômenos como a precarização do trabalho, a volatilidade dos mercados financeiros e a instabilidade política. (4). Crise da Representação e do Trabalho: Outro ponto central na análise de Oliveira é a crise do trabalho, especialmente em sua forma tradicional. A globalização e o avanço tecnológico transformaram as relações de trabalho, criando novas formas de exploração e precariedade. Ao mesmo tempo, as estruturas de representação dos trabalhadores, como sindicatos e partidos, se mostram incapazes de lidar com essas novas realidades. No Brasil, a era da indeterminação é marcada pela adoção do neoliberalismo, o enfraquecimento dos movimentos sociais e a crise das instituições políticas tradicionais. Para Oliveira, essa era reflete a incapacidade do sistema político e econômico de oferecer respostas adequadas às demandas da sociedade, levando a uma desorientação generalizada. No plano global, a era da indeterminação reflete o colapso das velhas ordens, como o Estado de bem-estar social, e a ascensão de um capitalismo globalizado que escapa ao controle dos Estados-nação. Essa nova realidade gera incerteza e ansiedade, já que os mecanismos tradicionais de regulação e controle se mostram insuficientes para lidar com os desafios do século XXI.
[9] Rancière, Jacques. O ódio à democracia. Boitempo editorial: São Paulo, 2014.
[10] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, Volume 3, Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política. Civilização brasileira, 2000: p. 21
[11] GRAMSCI, Antonio. op.cit. p. 21
[12] COUTINHO, Carlos Nelson. De Rousseau a Gramsci: Ensaios de teoria política. Boitempo editorial: São Paulo. p. 124-125.