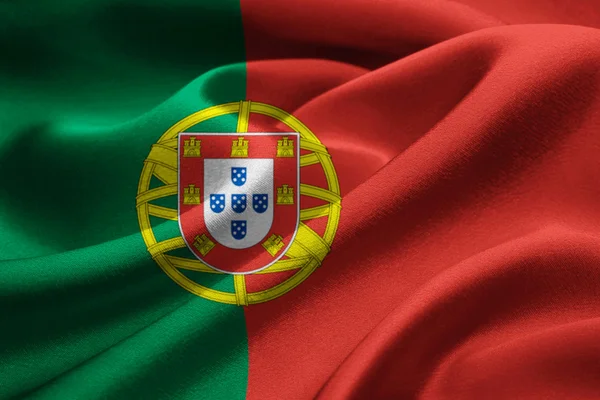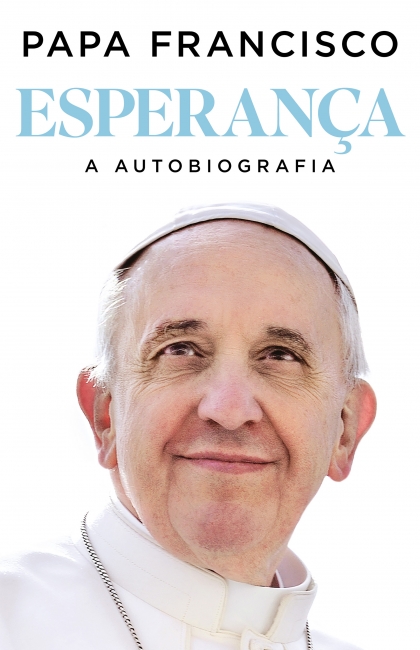Contingente de pessoas em situação de rua explode — no Brasil e no mundo. É preciso ir às raízes do fenômeno. Capitalismo tardio quebra os laços de solidariedade e serve-se da superexploração dos mais pobres, como na reciclagem, e higienização das cidades
OUTRAS MÍDIAS/IHU, 19/02/2025
Igor Rodrigues em entrevista IHU e Baleia Comunicação
Com políticas públicas esgotadas, panorama sombrio tomou conta do país e aumentou em 1.000%, na última década, o número de pessoas que moram nas ruas. Uma população invisibilizada, que reflete o colapso do atual sistema socioeconômico. “A vida nas ruas e os indivíduos que vivem nestas condições não estão fora do sistema capitalista, pelo contrário, são produtos desta sociedade, fabricados, embalados e entregues por um sistema econômico agressivo, destruidor e colapsado”, assinala Igor Rodrigues, autor da pesquisa Trocas Sinistras: a vida na rua sob novo prisma, junto com Dimitri C. Fernandes.
Com o intuito de compreender a vida nas ruas, nos últimos dez anos, os pesquisadores se debruçaram a estudar as pessoas que moram nas ruas, o conceito de cidadania e as políticas públicas. Por isso, Rodrigues é catedrático ao afirmar que “sem uma abordagem criativa e humanitária, os governos se limitam às políticas esgotadas, albergacionistas, quando não traçam alguma escalada pela barbárie e pela eliminação”. Para o sociólogo, o problema também é acadêmico, pois “pesquisadores e cientistas do assunto continuam calados sem explicar esse fracasso – o debate, precário, recorre ao mero instrumento descricionista-etnográfico ou aos censos para apontar quantos aumentaram”, explica.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, o sociólogo expõe as causas que levam as pessoas às ruas. Muito pelo contrário do que o senso comum tem como mito, “a droga não pode ser tomada como uma explicação simplista e reducionista da vida nas ruas, até porque uma gama de indivíduos está na rua e não utiliza nenhuma substância ou começou a utilizar após ir para as ruas”, pontua. Os motivos, segundo coloca, estão associados “às rupturas nos ciclos de troca social e o processo de descarte humano crescente nas últimas décadas, não a suposta ‘comodidade’ que a vida na rua teria”, destaca.
“Estamos falando da produção crescente do descarte humano”, assevera o pesquisador. Para Rodrigues, as pessoas em situação de rua são “descartadas por este modelo econômico, enquanto tal, vivenciam uma total violação de direitos humanos. A sociedade cria espaços de controle e confinamento ‘a céu aberto’, relegando essas pessoas a um estado de marginalização que tolera e permite o massacre destes indivíduos descartados. Estamos presenciando uma série histórica de banimento de na ordem dos direitos”, complementa.
Igor de Souza Rodrigues é doutor e mestre em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre, graduado em Direito pelo Instituto Vianna Júnior e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista na área de sociologia. Atuou como pesquisador Sênior do projeto A Gênese Social do Usuário do Crack – Ministério da Justiça do Brasil – UFJF/SENAD (2014-2017) e membro do Centro de Estudos Sobre Cidadãos em Situação de Rua. Leia a entrevista:
IHU – A primeira pergunta não é um recorte de sua pesquisa, mas imagino que exista uma estimativa que o senhor possa trazer para contextualizar o tema. Qual o número de pessoas em situação de rua no Brasil? Por que isso acontece, apesar de haver investimentos em políticas públicas?
Igor Rodrigues – O Brasil tem hoje aproximadamente 300 mil pessoas vivendo nas ruas de todo o país. A questão que eu e o sociólogo Dmitri Fernandes dedicamos anos de pesquisa foi entender o motivo do número ter crescido 1.000% na última década, apesar do aumento dos investimentos e da diversificação dos serviços na área social, ou seja, é preciso entender qual o ponto-chave e o motivo pelo qual as cidades não têm conseguido resolver ou, pelo menos, frear este problema social apesar da atenção que o problema vem recebendo nos últimos anos.
Após décadas de políticas fracassadas neste segmento, a pergunta “onde se tem errado?” se tornou essencial para uma virada eficaz no modo de compreensão sobre a vida nas ruas. Há quatro anos, em entrevista ao IHU, relatei que as políticas eram apenas castelos de areia e não lograriam êxito. O Brasil coleciona um retumbante fracasso em relação às políticas para a situação de rua e precisa com urgência rever este panorama.
O pior é que os pesquisadores e cientistas do assunto continuam calados sem explicar esse fracasso – o debate, precário, recorre ao mero instrumento descricionista-etnográfico ou aos censos para apontar quantos aumentaram. Sem uma abordagem criativa e humanitária, os governos se limitam às políticas esgotadas, albergacionistas, quando não traçam alguma escalada pela barbárie e pela eliminação. Enfrentamos, então, o que estamos chamando de um panorama sombrio: a falta de alternativas ao debate público sobre a situação de rua, não apenas no Brasil, mas no mundo. A falta de articulação entre as políticas públicas, as estruturas sociais e as experiências individuais perpetuam o problema, transformando a situação de rua em um reflexo do colapso do sistema socioeconômico.
IHU – Quais são os principais mitos em torno das razões pelas quais as pessoas passam a viver em situação de rua? Qual a importância de desconstruí-los?
Igor Rodrigues – Vou destacar três mitos. De um modo geral, a população acredita que a situação de rua é causada pela droga, especialmente pelo crack. Por vezes, o crack pode, de fato, ser encontrado na dinâmica de quem vive nas ruas, mas nem sempre. A droga não pode ser tomada como uma explicação simplista e reducionista da vida nas ruas, até porque uma gama de indivíduos está na rua e não utiliza nenhuma substância ou começou a utilizar após ir para as ruas; por outro, há vários que utilizam substâncias psicoativas em larga escala, cocaína, ecstasy, metanfetamina e até crack e não estão vivendo nas ruas.
Outro mito é que são simplesmente pessoas vagabundas, que não fazem absolutamente nada. As pessoas em situação de rua precisam se virar, catam latas, vendem balas, fazem carga e descarga de materiais, atuam em setores da agricultura como a colheita do café e da cana, porém, não há reconhecimento de seu trabalho, a troca não atinge recompensas materiais e apenas explora os fundos de vida. A história de Janaína, que começa às 7 horas da manhã e para às 22 horas para catar lixo, resume um pouco o cotidiano da vida nas ruas. Janaína consegue cerca de R$ 15 por dia, a sua jornada pouco consegue transformar em renda ou recompensas materiais, praticamente trabalha para comer, “o meu rolê é o lixo”, disse ela em uma das conversas que tivemos.
Temos também o mito da infestação, replicado, por exemplo, no livro a Máfia dos Mendigos: como a caridade aumenta a miséria. O senso comum tem acreditado que a situação de rua aumenta porque as pessoas estão sendo bem tratadas com políticas sociais, que é cômodo viver nas ruas. Há muito sofrimento na vida nas ruas, as pessoas nos relataram dramas profundos, mutilação da subjetividade, mas percebemos que querem sair desta condição. Além disso, a causa do fenômeno são as rupturas nos ciclos de troca social e o processo de descarte humano crescente nas últimas décadas, não a suposta “comodidade” que a vida na rua teria, até porque esse pensamento é, em si, uma crítica às políticas de transferência de renda, que as pessoas ali teriam direito estando na rua ou não.
IHU – Até que ponto a “teoria da multicausalidade” explica o crescimento da população de rua e a partir de que ponto ela é insuficiente?
Igor Rodrigues – Os pesquisadores e cientistas que estudam a vida nas ruas estão rendidos ao fácil e cômodo jargão “a situação de rua é multicausal”, ou seja, explicada por inúmeros fatores: políticos, econômicos, culturais – praticamente toda a literatura escapa de uma explicação fenomenológica em razão do generalismo e a superficialidade desta teoria. Dizer que é multicausal sem, de fato, aprofundar na explicação detalhada do problema criou uma superficialidade enorme nos estudos da situação de rua. Ora, todo problema social é complexo e multicausal, a questão passa a ser, então, entender o que estas aparentes “causas” têm em comum? Estudando a vida dessas pessoas, descobrimos que, por detrás das brigas familiares, depressão, consumo de drogas, alcoolismo, está a humilhação, a fragmentação e a frouxidão das relações sociais. Estes elementos comunicam todos os outros, portanto, estão na raiz do problema social.
IHU – As pessoas em situação de rua são pessoas excluídas da sociedade ou elas fazem parte do “sistema”? Por quê?
Igor Rodrigues – A vida nas ruas e os indivíduos que vivem nestas condições não estão fora do sistema capitalista. pelo contrário, são produtos desta sociedade, fabricados, embalados e entregues por um sistema econômico agressivo, destruidor e colapsado. França, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Argentina, Portugal, China, África do Sul e diversos outros territórios também registraram um acréscimo estrondoso dessa população, que não se restringe a locais mais ou menos ricos. Este modelo de sociedade tem produzido não apenas resíduos plásticos, mas pessoas, subjetividades descartadas na lógica do sistema e não mais aproveitadas. Embora esses indivíduos sejam tratados como “resíduos indesejáveis” – os sujos, feios e malvados -, eles representam uma manifestação extrema das contradições de nossa sociedade. A rua é a feiura do capital, um reflexo sombrio da precarização econômica e social.
Os indivíduos em situação de rua são a base de sustentação de uma pirâmide de exploração no mercado da reciclagem, de venda no comércio ambulante, em atividades no período de safras, entre outras. Além disso, participam como peças-chave no controle social, cuja existência reforça a culpa pela violência urbana, por exemplo. Tratá-los a partir da exclusão total seria ignorar todas estas facetas, incluindo os aspectos sinistros da relação.
IHU – A Constituição de 1988 ganhou o apelido de “Constituição Cidadã”. A razão é porque ela tinha, no seu núcleo, um paradigma orientado à solidariedade. Porém isso parece ter se degradado progressivamente nos últimos 36 anos. O que explica o enfraquecimento da reciprocidade social que nos leva ao cenário atual?
Igor Rodrigues – A Constituição Federal de 1988 nunca chegou de fato às pessoas que vivem nas ruas. São inúmeras violações históricas, massacres, indignidade, fome, frio, episódios grotescos, desrespeito a qualquer tipo de humanidade de quem vive nestas condições. A Constituição Brasileira seguiu um modelo de estado de bem-estar social, típico de um período do capitalismo, contudo, ao longo dos anos, esse próprio sistema econômico tem perdido a capacidade de absorção dos indivíduos via cidadania, criando pessoas dispensáveis e refugo descartável.
A democratização de direitos, de cidadania, depende, em boa medida, dos vínculos que uma sociedade desenvolve. Tem-se caminhado pelo individualismo, por trocas sinistras, ou seja, contato, proximidade física, mas formas obscuras de se relacionar. O conceito de cidadania se tornou esvaziado para parcelas significativas da população, incluindo os que vivem nas ruas. É um conceito ainda bastante fixado ao modo de vida das classes mais estabelecidas, como a classe média.
IHU – De que maneira o mundo do trabalho, com os processos de precarização de direitos de trabalhistas (chamada uberização) e de eliminação de postos de trabalho (automação de atividades) impacta no aumento da população em situação de vulnerabilidade social extrema?
Igor Rodrigues – Temos que entender os processos sociais como um todo. Na Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, a população miserável era uma parcela reserva aos empregos nas fábricas. Esse processo mudou especialmente com a automação, alcançando níveis jamais vistos desde a introdução da microeletrônica, a partir de 1980 até os dias atuais. O capitalismo tem, cada vez mais, eliminado postos de trabalho, como o de atendente, caixa de supermercado, cobrador de ônibus, são algumas das profissões em extinção. Algumas atividades surgiram neste mercado, porém, o saldo é negativo e as novas profissões não envolvem os trabalhos cujas camadas miseráveis têm oportunidades. A combinação entre precarização e automação não apenas empurra indivíduos para a pobreza, mas também amplia desigualdades estruturais.
O resultado é que, nos últimos anos, milhões de brasileiros foram para a informalidade, como vendedores ambulantes, catadores, entregadores de comida, ubers, entre outros. O aumento da situação de rua é consequência direta deste processo na medida em que há um tensionamento dos postos de trabalho, alguns são empurrados para as atividades com baixíssimas recompensas materiais como a catação de lixo – trabalhos exaustivos com exploração dos fundos de vida.
IHU – O que são as “trocas sinistras”, expressão conceitual que resulta do seu trabalho de pesquisa e de sua equipe, e o que o debate traz de novo para a discussão deste problema tão sério?
Igor Rodrigues – Durante quase dez anos de pesquisa, pudemos perceber que uma das questões centrais do fenômeno está na base das relações sociais: a sociedade não tem conseguido completar ciclos de reciprocidade com as pessoas em situação de rua e vice-versa – enormes trincas nas subjetividades, destruição da autoestima, falta de confiança, expectativas e profecias negativas geram o que temos chamado de trocas sinistras.
Uma relação efetiva que promove a inclusão depende de um ciclo entre dar-receber-retribuir, porém a sociedade tem visto as pessoas em situação de rua apenas sob o fardo da assistência, sem capacidade de retribuição nas trocas sociais. Nasce assim uma forma de se relacionar sem reciprocidade: trocas sinistras são relações ambíguas, muitas vezes camufladas, que trazem um componente de eliminação, violação e perversidade. São trocas assimétricas, predatórias e frequentemente violentas, por exemplo, quando alguém para se livrar de um pedinte na mesa do bar dá uma esmola, ou seja, há proximidade física, existe contato, mas a relação se baseia na fragmentação da troca e na humilhação.
O conceito de trocas sinistras oferece uma visão alternativa para compreender a vida nas ruas, desloca o foco do indivíduo para as relações sociais e levanta a falta de confiança e a humilhação nas trocas para explicar o enguiço das políticas públicas e o aumento da situação de rua. Explica, por exemplo, e a baixa adesão às políticas, o motivo pelo qual muitas pessoas em situação de rua não aceitam, desconfiam e têm medo do Estado – questões até então pouco compreendidas pelos cientistas.
IHU – Em que sentido diversos centros de acolhimento dessas populações, ao mesmo tempo que oferecem condições sanitárias e de alimentação essenciais, por outro lado produzem rotinas humilhantes à população de rua? Como isso afeta a subjetividade dessas pessoas?
Igor Rodrigues – Poucos centros de acolhimento verdadeiramente acolhem, as rotinas humilhantes destes lugares revelam uma tensão profunda entre a oferta de cuidados essenciais e a reprodução de estruturas opressoras. O acolhimento no Brasil precisa ser reconstruído a partir de outras lógicas. Em muitos casos, essas instituições impõem regras e práticas que desconsideram a individualidade e a dignidade dos indivíduos. O controle desmedido do cotidiano, como restrições à circulação, horários fixos e imposição de comportamentos, acaba por transformar a assistência em uma troca sinistra. Por fim, as pessoas acabam por não aderir aquilo que foi, em tese, proposto para evitar a situação de desabrigo.
Pudemos ver através das pesquisas o impacto na saúde mental e emocional das pessoas em situação de rua, reforçando ciclos de vulnerabilidade e exclusão. Esses indivíduos muitas vezes internalizam os estigmas sociais, o que pode levar à perda de autoestima e de esperança. A experiência repetida de humilhação e despersonalização minam a autoestima e reforçam sentimentos de inutilidade e rejeição. Como mencionamos na pesquisa, esse esfacelamento moral é o reflexo de um sistema que reduz os indivíduos ao descarte.
IHU – Giorgio Agamben tem um conceito bastante popular chamado “homo saccer”, que se refere às pessoas que são “sacrificáveis”, que estão à margem dos direitos constitucionais. Como isso aparece na questão da população em situação de rua? Até que ponto a Constituição e o Estado os protege e ampara?
Igor Rodrigues – A população de rua é a ponta da corda, o final do processo de circulação e troca desta sociedade. Estamos diante de um fenômeno mais profundo do que parece ser. Os pesquisadores não estão entendendo a complexidade e o que a vida na rua significa do ponto geral do sistema social. Estamos falando da produção crescente do descarte humano, a sociedade acelerou em larga escala o processo de eliminação da cidadania.
São pessoas descartadas por este modelo econômico, enquanto tal, vivenciam uma total violação de direitos humanos. A sociedade cria espaços de controle e confinamento “a céu aberto”, relegando essas pessoas a um estado de marginalização que tolera e permite o massacre destes indivíduos descartados. Estamos presenciando uma série histórica de banimento na ordem dos direitos.
O Estado é uma grande incógnita para quem vive nas ruas: às vezes um ponto de assistência, de auxílio e de apoio; por outras, fonte da própria humilhação e violação, isto é, o Estado não deixa de ser um agitador das trocas sinistras. Uma parte dos que vivem nas ruas já criou uma resistência ao Estado, tem medo, não quer proximidade ou relação – esse é um outro desafio a ser rápido e urgentemente considerado.
IHU – Diante dessas encruzilhadas, como construir políticas públicas capazes de dar conta de um problema humanitário tão grave, que é a população em situação de rua?
Igor Rodrigues – Essa é uma boa definição para o momento das políticas para a situação de rua: o Brasil está na encruzilhada, precisa, em primeiro lugar, entender onde estão os equívocos, ou seja, por quais motivos as políticas, os investimentos e os serviços aumentaram e, ao mesmo tempo, o problema cresceu 1000%. Existe uma necessidade de revisão da forma como as políticas foram desenhadas, muitas foram criadas objetivando direitos para quem vive nas ruas, mas não alcançam de fato esta população – inclusive pelo tipo de troca que permeia as relações, em suas formas sinistras, como propomos neste estudo. Entender a falta de eficácia, a não aderência, a falta de efeitos transformadores são alguns dos passos para que as políticas possam realmente apresentar resultados positivos frente ao tsunami do descarte humano.