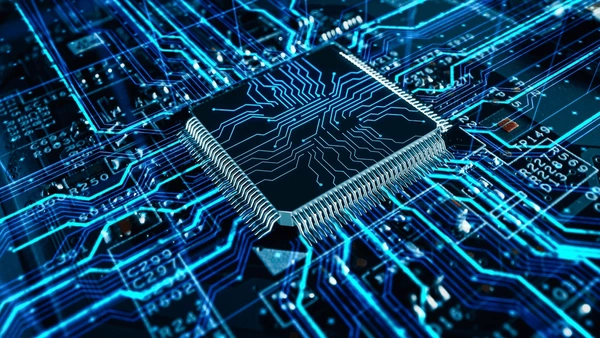Economista que comandou a Fazenda comemora sucesso da moeda, mas critica mercado pela captura do patrimônio público
Douglas Gravas – Folha de São Paulo – 23/06/2024
SÃO PAULO
Na visão de Luiz Carlos Bresser Pereira, 89, ter domado a inflação descontrolada que castigava o Brasil antes do lançamento do real é, sem dúvida, o grande mérito do plano econômico que em 2024 chega aos 30 anos.
Mas é preciso também fazer críticas a ele. “As pessoas esquecem, porque ficam só no oba-oba: Sim, o Plano Real foi uma maravilha, mas junto com ele foi feita uma elevação de juros absolutamente alta”, diz o economista, que avalia que o país caiu em uma armadilha de juros e câmbio.
Ainda que considere o saldo das últimas três décadas positivo, o professor emérito da FGV (Fundação Getulio Vargas), que também foi ministro da Fazenda no governo de José Sarney, aponta que a equipe que fez o plano e depois ajudou a compor o governo Fernando Henrique Cardoso adotou completamente a ortodoxia liberal.
Quais são as primeiras lembranças que o sr. tem do Plano Real?
Em 1993, fui visitar [o então ministro da Fazenda] Fernando Henrique Cardoso e disse a ele: se você levar adiante esse plano de estabilização, no ano que vem vai ser eleito presidente da República.
Nem se falava nisso naquela época, mas eu sabia que nós estávamos com uma alta inflação inercial, autônoma da demanda, que aumentava automaticamente porque os agentes econômicos, as empresas, os consumidores, os trabalhadores, todos, indexavam os seus preços formal e informalmente.
Tinha desenvolvido o modelo básico dessa teoria com o economista Yoshiaki Nakano, antes do pessoal da PUC-Rio, com quem sempre me associei nos esforços para combater a inflação. Quando eles fizeram o Plano Cruzado [em 1986], ajudei no que pude. Quando eu fiz o meu Plano Bresser [em 1987], eles também me ajudaram de várias maneiras.
O que ele tinha de diferente dos planos anteriores?
A diferença do Plano Real para o Cruzado e o Bresser é a forma de neutralizar a inflação inercial, era preciso estabilizar os preços sem que ninguém saísse perdendo. Na linguagem dos economistas, que os preços relativos continuassem constantes.
É fácil entender o problema quando você faz um plano de estabilização baseado no congelamento de preços, como foram o Cruzado e o Bresser: se você congela em um determinado dia, quem aumentou os preços no dia anterior fica ótimo e quem ia aumentar no dia seguinte está ferrado.
Por isso, havia uma tabela de conversão que nós fazíamos, a tablita, e isso não existiu no plano Collor, e por isso ele não deu certo. No Plano Real, em vez de usar esse sistema de congelamento, optou-se pela URV [Unidade Real de Valor], um sistema de moeda indexada bolado pelo André Lara Rezende.
Ele escreveu um belo artigo a respeito, uma coisa muito sofisticada, em que se neutralizava, então, a inflação, criando-se uma segunda moeda. E depois, dava-se um prazo para que todas as empresas e as pessoas acertassem os seus preços. Os preços continuavam na moeda em circulação, em cruzeiros reais, mas todo mundo tinha que pôr também o preço em URV. Então, depois que todo mundo teve tempo para fazer esse ajuste, a URV virou real. E com isso neutralizou-se a inércia inflacionária perfeitamente, brilhantemente.
Esse mecanismo foi uma das chaves para o sucesso do plano?
Esse era um sistema que Nakano e eu havíamos pensado em fazer quando eu fiz o meu plano —não o Plano Bresser, que sabia que ia ser difícil e era uma coisa de urgência, feita no meio de uma crise imensa. Mas, quando planejei fazer o segundo, depois que o outro não deu certo, ia fazer uma otimização. O Plano Real foi uma coisa brilhante, uma grande vitória do Brasil, afinal, depois de 14 anos de alta inflação.
O saldo após três décadas, portanto, é positivo?
É preciso dizer uma coisa, que as pessoas esquecem, porque ficam só no oba-oba: Sim, o Plano Real foi uma maravilha, mas junto com ele foi feita uma elevação de juros absolutamente alta, chegando a 45%. Você pode dizer: bom, mas era preciso fazer isso, para desestimular quem quer que fosse e, com isso, também se fez uma espécie de âncora cambial. Então, o câmbio ficou fixado, não é? Graças a esses juros tão altos.
Os juros não precisavam ter sido tão altos?
É difícil saber se precisavam. Agora, o que eu tenho absoluta certeza é que deviam ter sido reduzidos muito mais depressa do que foram. FHC saiu [para disputar a eleição], a equipe que ficou era a mesma. Quando chegou o governo do próprio FHC, toda a equipe que tinha feito o real foi para o governo dele, viraram donos da casa, da área econômica. E mantiveram os juros de maneira escandalosa durante muito tempo.
O plano foi em 1994 e me lembro que em 2010 o Pérsio Arida argumentava que 10% [em termos reais] era a taxa natural de juros, ou seja, com estabilidade de preços.
A partir do Plano Real, o mercado financeiro e os rentistas (e os economistas que trabalham para os rentistas e os financistas) passaram a capturar o patrimônio público. Eles estão, no ano da graça de 2024, portanto 30 anos depois do real, capturando 7% do PIB [Produto Interno Bruto].
Essa é uma herança do Plano Real?
Isso é uma herança do Plano Real ou é uma herança da ortodoxia liberal.
Uma coisa que é importante entender também é que nós éramos economistas heterodoxos —André, Pérsio, Chico Lopes, [Edmar] Bacha e eu. Agora, quando assumiram o Ministério da Fazenda e o Banco Central, eles ficaram completamente ortodoxos, adotaram a ortodoxia liberal completamente.
A única diferença é que André, mais recentemente, a partir de 2015, voltou à heterodoxia. É um homem muito inteligente.
Tenho falado que nesses últimos 40 anos o Brasil é um país semiestagnado. Não posso atribuir isso ao plano. Ou, se quiser, posso atribuir ao plano o fato de que os juros ficaram altos demais, mas o resto, não.
Parte dos economistas que criticaram o plano também tinha uma preocupação com a desindustrialização do país. Esse foi um efeito que se confirmou?
Não pelo plano em si, a não ser pela questão dos juros. Digo há muitos e muitos anos que entramos em uma armadilha da taxa de juros e da taxa de câmbio, algo que eu também chamo de “armadilha da liberalização”. Essa foi uma armadilha que o Brasil caiu e não com o Plano Real.
Caiu antes, em 1990, quando o [ex-presidente Fernando] Collor fez a abertura comercial e financeira.
Outra das críticas na época era que o plano não resolveria os problemas estruturais da economia.
Bom, isso nunca resolveu mesmo, mas não era para resolver também. O Plano Real é bem-sucedido por ter sido feito para acabar com a inflação e ter terminado com ela. Não se pode querer que ele resolvesse o problema fiscal brasileiro, que exige um programa recorrente. Não era para resolver o problema cambial brasileiro, que estava absolutamente mal parado.
O que se pode cobrar dele, e essa é a única coisa que eu cobrei, foi a questão dos juros.
Tem gente que entende o Plano Real como sendo tudo o que aconteceu depois dele. Não é. O Plano Real acabou ali no fim daquele ano de 1994. Ou, se quisermos, ele estava terminado um ano depois da implementação. E tinha acabado com sucesso, ponto.
Luiz Carlos Bresser Pereira, 89
Nasceu em São Paulo. Economista, foi ministro da Fazenda e da Administração Federal e da Reforma do Estado. É diretor do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV (Fundação Getulio Vargas). É autor e coautor de diversos livros, como “Construindo o Estado Republicano” (1994) e “Macroeconomia Desenvolvimentista” (com José Luis Oreiro e Nelson Marconi, 2016)