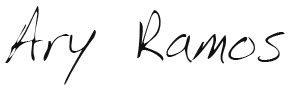Folha de São Paulo, 09/12/2020.
Mas como H.L. Mencken supostamente disse (embora talvez não o tenha feito), para cada problema complexo existe uma resposta simples, clara e errada
Qual deveria ser o objetivo de uma corporação de negócios? Por muito tempo, a opinião prevalecente, nos países de fala inglesa e, cada vez mais, em outras regiões, foi a defendida pelo economista Milton Friedman em um artigo para o The New York Times, intitulado “a responsabilidade social das empresas é elevar seus lucros”, publicado em setembro de 1970. Eu costumava acreditar nisso, igualmente. Mas estava errado.
O artigo merece ser lido na íntegra. Mas o cerne daquilo que ele defende surge na conclusão:
“Existe uma e apenas uma responsabilidade social para as empresas: usar os recursos de que dispõem e se engajar em atividades concebidas para aumentar seus lucros, desde que respeitem as regras do jogo, ou seja, se engajem em competição livre e aberta, sem trapaça ou fraude”.
As implicações dessa posição são simples e claras. Essa é sua principal virtude. Mas como H.L. Mencken supostamente disse (embora talvez não o tenha feito), “para cada problema complexo existe uma resposta simples, clara e errada”. E a conclusão citada acima é um exemplo poderoso de como isso é verdade.
Passados 50 anos, a doutrina precisa ser reavaliada. Apropriadamente, se considerarmos a conexão entre Friedman e a Universidade de Chicago, o Centro Stigler, da Escola Booth de Administração de Empresas, parte daquela instituição, acaba de publicar um livro eletrônico, “Milton Friedman 50 Years Later”, que contém opiniões variadas a respeito do assunto.
No excelente artigo que conclui o volume, Luigi Zingales, que promoveu o debate, tenta oferecer uma avaliação balanceada. Mas, em minha opinião, sua análise é devastadora. Zingales propõe uma pergunta simples: “Sob que condições é socialmente eficiente que os gestores se concentrem apenas em maximizar o valor para os acionistas?”
A resposta dele tem três pontos. “Primeiro, companhias devem operar em um ambiente competitivo, que definirei como um ambiente no qual as empresas acatam preços e acatam regras. Segundo, não deve haver externalidades (ou o governo precisa ter a capacidade de tratar com perfeição dessas externalidades por meio de regulamentação e tributação). Terceiro, os contratos devem ser completos, no sentido de que todas as contingências relevantes possam ser especificadas no contrato, sem custos”.
É desnecessário dizer que nenhuma dessas condições se aplica. De fato, a existência mesmo das corporações demonstra que não se aplicam. A invenção da corporação permitiu a criação de entidades imensas a fim de explorar as vantagens da economia de escala. E levando em conta essa escala, a ideia de que as empresas acatem preços é absurda. Externalidades, muitas delas de alcance mundial, são onipresentes. E as corporações também existem porque os contratos são incompletos. Se fosse possível escrever contratos que especifiquem todas as eventualidades, a capacidade dos gestores para responder ao inesperado seria redundante. Acima de tudo, as corporações não acatam regras, e sim as fazem. Envolvem-se em jogos na criação de cujas regras elas têm um papel importante, via política.
Minha contribuição para o livro enfatiza esse último ponto, ao questionar o que constituiria um bom “jogo”. Argumento que “seria um jogo no qual as companhias não promoveriam falsa ciência sobre o clima e o meio ambiente; em que companhias não matariam centenas de milhares de pessoas, ao promover o vício em opioides; em que as companhias não fariam lobby por sistemas tributários que permitem que estacionem boa proporção de seus lucros em paraísos fiscais; em que o setor financeiro não faria lobby por regras de capitalização insuficientes que causam imensas crises; em que companhias não fariam lobby para buscar castrar uma política efetiva de defesa da competição; em que companhias não pressionariam vigorosamente contra os esforços para limitar as consequências sociais adversas do trabalho precário; e assim por diante”.
É verdade, como argumentam muitos dos autores que contribuíram para o compêndio, que a corporação por cotas de responsabilidade limitada foi (e continua a ser) uma brilhante inovação. Também é verdade que tornar mais complexos os objetivos corporativos podem ser problemáticos. Assim, quando Steve Kaplan, da Escola Booth, pergunta de que maneira as corporações deveriam calcular as vantagens e desvantagens relativas de muitos objetivos diferentes, ele conta com minha simpatia. De forma semelhante, quando líderes empresariais nos dizem que a partir de agora atenderão às necessidades mais amplas da sociedade, eu me pergunto: primeiro, devo acreditar que o farão? Segundo, devo acreditar que sabem como fazê-lo? E, por fim, quem os elegeu para essa função?
E, no entanto, os problemas que o grave desequilíbrio econômico, social e de poder político inerente à situação atual gera são vastos. Quando a isso, a contribuição de Anat Admati, da Universidade Stanford, é convincente. Ela aponta que as corporações obtiveram muitos direitos políticos e civis mas que não estão sujeitas a obrigações correspondentes. Entre outras coisas, é raro que pessoas sejam responsabilizadas individualmente por crimes corporativos. A Purdue Pharma, agora insolvente, se admitiu culpada por acusações criminais relacionadas à maneira pela qual trabalhou com o medicamento OxyContin, que viciou um número imenso de pessoas. Indivíduos são presos rotineiramente por comerciar drogas ilegais, mas, como ela aponta, “nenhum indivíduo da Purdue foi parar na cadeia”.
O poder corporativo irrestrito vem sendo, além disso, um fator importante para a ascensão do populismo, especialmente o populismo de direita. Considere a maneira pela qual alguém age ao tentar convencer as pessoas a aceitar as ideias econômicas libertárias de Friedman. Em uma democracia dotada de sufrágio universal, a tarefa é realmente difícil. Para vencer, os libertários precisam se aliar aos defensores de outras causas – guerra cultural, racismo, misoginia, nativismo, xenofobia e nacionalismo. Mas boa parte disso acontece, é claro, por baixo dos panos, de forma a permitir que as conexões sejam negadas plausivelmente.
A crise financeira de 2008, e o resgate subsequente àqueles cujo comportamento a causou, tornaram ainda mais difícil vender a ideia de um mercado livre e desregulamentado. Assim, se tornou politicamente essencial para os libertários apostar ainda mais nas causas acessórias. Trump não era a pessoa que eles desejavam: ele é errático e desprovido de princípios, mas é um empreendedor político que parecia um candidato adequado para conquistar a presidência. E ele deu aos libertários o que mais desejavam: desregulamentação e cortes de impostos.
Há muita discussão a realizar sobre como as corporações deveriam mudar. Mas a maior questão, por larga margem, é como criar boas regras para o jogo em termos de competição, normas trabalhistas, meio ambiente, tributação, e assim por diante. Friedman presumia que nada disso importasse, ou que uma democracia funcional sobreviveria a ataque prolongado por pessoas que pensavam como ele. Nenhuma dessas suposições se provou correta. O desafio é criar boas regras do jogo, por via política. E hoje isso não é possível.
Financial Times, tradução de Paulo Migliacci
Martin Wolf
Comentarista-chefe de economia no Financial Times, doutor em economia pela London School of Economics.